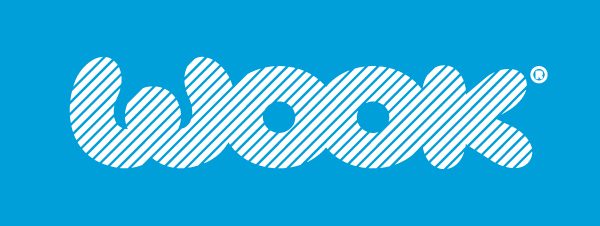Pub
.
.1
1.
Começo por um desvio. À distância de quase cem anos, o escândalo que então provocou Ulisses (1922), de James Joyce (1888-1941), parece não ser mais do que um eco esbatido, uma sombra pálida que figura nos compêndios da história da literatura. Evoca-se e celebra-se esse incontornável marco do modernismo literário, mas afirmá-lo nestes termos, ainda que rigorosamente justos, tenderá somente por corroborar a institucionalização desse livro, normalizando o que nele fora o poder transgressor de um desvio, de uma infâmia.
Relembre-se, de modo abreviado, o périplo renhido pelo qual passara a edição de Ulisses: as várias recusas que Joyce enfrentou, as perseguições policiais, a censura activa de que Ulisses fora alvo nos países de língua inglesa, as acusações de obscenidade, os editores levados a tribunal, as coimas, os livros incinerados. Do que exigiria, aqui, um exaustivo trabalho de descrição de bastidores pretende-se tão-só relevar estes dois aspectos: a existência nómada a que Joyce se sujeitara, entre Trieste, Zurique e Paris, para poder escrever com absoluta liberdade, por um lado; e o árduo e inimaginável caminho pelo qual os livros, às vezes insuspeitadamente, chegam até nós, por outro. A extrema fragilidade que os configura, enquanto matéria facilmente inflamável, enquanto corpo empírico facilmente exposto à pronta aniquilação, ao amesquinhamento, à sevícia moral. A linha ténue que demarca um livro, tal como o conhecemos e estimamos, na sua existência plena, da possibilidade de ser cinza, um rumor vagamente anotado e, portanto, perigosamente vulnerável ao esquecimento. A ser menos que nada: como se nunca tivesse sido escrito.
E, no entanto, Ulisses existe, resiste. O seu escândalo foi precisamente esse: o da fazer da existência, na sua instância mais elemental, no desconserto das suas impurezas, um gesto de elevação épica – quando a única epopeia manifestamente possível, no alvor do século XX, após a tragédia da Primeira Grande Guerra, equivale à razia despovoada de deuses e de outras manigâncias numinosas, ao extremo refugo diário a que Joyce concede uma qualidade epifânica. Um dia banal como qualquer outro – o célebre 16 de Junho de 1904 –, numa cidade que é Dublin, torna-se literariamente válido, aos olhos de Joyce, para entabular um romance de grande fôlego: «Cada vida é muitos dias, dia após dia. Caminhamos por nós mesmos, encontrando ladrões, fantasmas, gigantes, velhos, jovens, esposas, viúvas, irmãos-no-amor. Mas sempre nos encontrando a nós mesmos.» (Ulisses, p. 223).
«[…] isso repete-se. Pensas que te escapas e esbarras contigo próprio. O caminho mais comprido é o caminho mais curto para casa.» (Ulisses, p. 387). Neste caso: o caminho de um homem comum, Leopold Bloom, angariador de publicidade, que regressa a casa após um dia de trabalho, ruminações e aguçadas contingências.
Por outras palavras: a vida anónima do presente não deixa de conter os seus tímidos clarões míticos e mitológicos, as sobrevivências residuais de longínquas intensidades homéricas, soterradas na areia do tempo como as ruínas de Tróia e o clamor dos seus guerreiros. Afinal, lê-se a dado momento no episódio da maternidade: «Qualquer objecto, intensamente considerado, pode ser uma porta de acesso para o éon incorruptível dos deuses» (p. 427).
Eis uma das inúmeras possibilidades de gizar uma aproximação ao Ulisses de Joyce e ao que neste livro continua a reverberar de um modo fulgurante, instabilizando qualquer leitura: o de ser um olhar demorado de intensíssima atenção à espessa mundanidade de que se revestem as coisas, tanto materiais como imateriais, sem qualquer redoma de sacralização proibitiva que as exsique da tangibilidade porosa da vida, sem nada que as bloqueie da propensão háptica a que linguagem também se presta, por ser com palavras e através de palavras que se dá «um toque secreto» (Ulisses, p. 184) entre humanos, coisas, memórias. Tudo o que pode ser dito, ou sequer pensado, tem forçosamente uma existência real; e, por isso, tem também direito ao real a que a literatura dá forma.
Para lá das inovadoras experimentações técnicas empreendidas pelo autor em cada um dos dezoito capítulos; para lá da minúcia descritiva e da singularidade psicológica aplicadas às figuras de Leopold Bloom, Molly Bloom e Stephen Dedalus, para não mencionar o séquito numeroso de outras personagens que irrompem ao longo dos vários episódios do livro; para lá do poder libertador que Joyce fez por ressaltar na demonstração enciclopédica dos seus conhecimentos históricos, literários e linguísticos, na abertura textual a toda a gama de extravagâncias derivativas; para lá, em suma, de tudo aquilo que legitima o reconhecimento de Ulisses como o auge emblemático do virtuosismo modernista, com efeitos de alcance tectónico ao nível da conceptualização do romance, galgando os perímetros do até então modelo narrativo realista do século XIX, – Ulisses é antes do mais um grande livro do corpo humano e, como tal, da incandescência inacabável da vida, «a grande mestra» (Ulisses, p. 41).
Eis o corpo na sua inteira fisiologia, enquanto realidade material, com as suas secreções, a fina película de gordura que faz a pele brilhar, a saliva, o esperma, os gases e os excrementos, a sua irreparável decadência física. O corpo que come e defeca, que vê e alucina, que beija e especula. Joyce não se limita a expandir as possibilidades da descrição narrativa ao percorrer, pormenor a pormenor, os vários estádios da gestação de um feto, os saltos imprevistos de uma mente agitada que deambula pela cidade, ou os processos químicos que afectam o regular funcionamento do sistema digestivo. Joyce vai mais longe ao fazer das palavras corpos (cf. Kevin Birmingham, 2015, p. 208) – ao modelar a escrita com o poder altamente sugestivo de uma substancialidade corpórea, irisada, que consegue, por isso mesmo, chocar, ter espessura volumétrica, abrir fissuras com a intensidade do seu peso ou do ímpeto com que a gravidade atira e prende um corpo ao chão. Em simultâneo, fazendo das palavras corpos, a escrita denota no seu espraiamento vocabular o prazer pelo prazer, a sensação de leveza ebuliente no modo como acontece a alegria, o gozo sexual, a simples germinação de uma lembrança feliz. Ao fazer das palavras corpos, bordejando na escrita a pregnância rítmica e tumultuosa dos fluxos orais, Joyce consegue irradiar o efeito de presença que um insulto inflige, a crepitação que anima a polpa do atrito, um odor que ascende no ar, o estertor diabólico de um riso.
O que fulgura nesse dia avulso que serve de moldura temporal ao arco narrativo de Ulisses é a alegria expansiva do corpo, a irredutibilidade do desejo enquanto força agenciadora de vida. Dir-se-ia, como Leopold Bloom num momento de simplicidade defensiva, que «é a verdadeira vida» que se procura afirmar, de página em página, o «Amor» como «o contrário do ódio» (Ulisses, p. 343). Seria uma consideração abstracta, não fosse o contexto em que ocorre guarnecê-la de uma vulnerabilidade terrífica, a de um homem vítima de insultos xenófobos que responde com essas palavras àqueles que o atacam. É, por isso, uma belíssima e corajosa banalidade. Mas é também outra coisa: um modo lapidar de eternizar, em vocábulos redondos de alcance universal, a beleza fugaz de um instante verídico, o do primeiro encontro amoroso entre Joyce, na altura com 22 anos, e aquela que se tornaria a companheira de sempre, Nora Barnacle. É sabido que os enredos de Ulisses devem a sua existência ao momento em que Nora fizera descer a sua mão até ao baixo-ventre de Joyce, infiltrando-se-lhe no interior quente das calças, tocando-lhe o sexo, fazendo-o vir-se ao pé da baía, num subúrbio de Ringsend com vista para o rio Liffey, em Dublin. Foi no dia 16 de Junho de 1904.

2.
Fazer das palavras corpos parece também corresponder ao trabalho que Rui Nunes (n. 1945) aplica nos seus livros. «Aquilo que me fascina na linguagem», assume este autor português numa entrevista, «é a possibilidade que há de a tornar física, é a fisicalidade que é possível retirar da linguagem» (jornal i, em linha). Uma afirmação desta natureza acabaria facilmente por desaguar num vazio inútil e inconsequente, sobretudo depois de se ter trazido à colação o ímpeto alvoroçante de Ulisses, publicado em 1922. A questão, aqui, nem tão-pouco se prende com a explanação de presumíveis genealogias ou assumidas influências directas de Joyce na escrita de Rui Nunes. Quando o autor de Grito fala na vontade de «fisicalizar a linguagem», interessa apenas denotar o quão difícil é permanecer fiel a esse gesto, a essa intenção denotativa: o de dizer o mundo sem que o mundo se esvazie da sua substancialidade integral: quer dizer, das suas arestas, das suas imperfeições, das partes esborceladas que jamais se encaixam e se integram numa totalidade ideal. Num autor como Rui Nunes, interessa acompanhar o modo como a escrita não trai uma injunção como esta: «Resiste. Não transfigures, não emendes com frases as palavras que doem, elas reconhecerão sempre o alvo», escreve o autor de (ou, transigindo, de que lado passarás a morrer, a clarear)? (2014, p. 26).
Será possível preencher um livro inteiro sem frases emendadas, escrevendo com todas «as palavras que doem»? Um livro que contenha «só a palavra merda, só a palavra caralho, só a palavra paneleiro» (Nocturno Europeu, p. 98), num arremesso insensato de pedra contra o brilho impecavelmente cínico de todos os telhados de vidro, contra «o dejecto asséptico dos aplausos» (p. 16) e «a iníqua alegria dos sacanas» (p. 28)?
O que me move aqui é dar testemunho como leitor, tocado ou invadido por «palavras que doem»: o modo como descobri Rui Nunes lendo um livro como Que sinos dobram por aqueles que morrem como gado? (Relógio D’Água, 1995). O modo como este título longo, seguido na capa por uma reprodução de um quadro de Francis Bacon, se impõe de antemão com a intensidade irrefutável de uma dor, de um gesto violento que expulsa qualquer discurso, qualquer retórica. Corresponde, este título, a uma tradução de um conhecido verso de Wilfred Owen, poeta e soldado inglês que combateu nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, explicitamente nomeado na epígrafe que abre o livro. Será este, pois, um livro sobre a violência da guerra, sobre o lastro de destruição que permanece depois de consumado o massacre? Terão os enredos algo a dizer ou a mostrar sobre a indiferenciação anónima dos corpos empilhados, sobre a redução brutal a que o poder militar e a insânia política conduzem as subjetividades em tempo de guerra, aniquilando-as em nome da imperatividade de instâncias abstractas como a «pátria», o «hino», «Deus»? Aniquilando-as «como gado» no matadouro?
Admito: estas não são genuínas questões. São acima de tudo pretextos, gatilhos, sintomas da profunda ansiedade de se estar diante de um livro que, uma vez lido, continua a impedir-nos de falar. Se intentar responder-lhes, o mais directamente possível, recorrendo a palavras do autor, talvez encontre uma solução provisória nas páginas de um outro livro seu; como quem, de uma a outra paragem textual, se permite dar tempo ao tempo para pôr à distância o que na extrema proximidade se mostra anómalo e imponderável. Por isso, quase a medo, vinte e um anos depois, descubro no preâmbulo de A Crisálida a mesma pedra bruta do livro Que sinos dobram… um pouco mais amolada: «Hoje, a violência já não está circunscrita aos territórios de caça, rodeados de arame electrificado. Coutadas. Há, por todo o lado, palavras de um sangue indiferente. E há o sangue. Os mapas tornaram-se frágeis e os mortos não têm um deus atrás que os receba» (A Crisálida, p. 7).
Que sinos dobram… abre com uma pergunta que não cessa de insistir, de perdurar, enquanto demora interrogativa. Não procura uma resposta, não parece prometer encontrá-la, nem sequer descobri-la, ao longo das 149 páginas seguintes, todas muitíssimo desiguais ao nível da sua visualidade gráfica, da espessura textual que as preenche. As palavras que Rui Nunes transforma em corpos são, antes do mais, a própria visualidade material que constitui o miolo do livro. A saber: o efeito de cesura e de descontinuidade provocado por existir, em aparência, dois blocos narrativos diferentes, um à esquerda, nas páginas pares, e outro à direita, nas páginas ímpares. À esquerda, um testemunho pessoal, em clave vagamente diarística (os géneros, subgéneros e demais tipologias literárias entram em total convulsão neste autor), que abrange um percurso de 45 dias. À direita, um diálogo entre vozes ou a contiguidade entre vários monólogos – as vozes de Pedro, Gil e Áurea, ora individualmente marcadas, ora tornadas indistintas, aparecendo no texto como uma «outra voz». As vozes tendem a expulsar a expectativa funcionalmente narratológica da presença de personagens, enquanto ficções que agem ou são agidas na ficção, para darem lugar a outra coisa, para se tornarem uma outra coisa. Mas o quê?

3.
«Ver é estranhar. Avanço pela cegueira progressiva, nunca perda de visão, mas desvio dela» (Que sinos dobram…, p. 8). Tal como Joyce no seu tempo de vida, também Rui Nunes, por um lado, viveu sempre em viagem, incapaz de ter como pátria ou de reconhecer como sua casa uma determinada cidade, num determinado país; e, por outro lado, os olhos de Rui Nunes viram sempre muito mal. Mas vamos por partes.
O autor nasceu em 1945, é natural da Beira Interior, foi professor de Filosofia em Sintra e em Lisboa, até não poder mais leccionar por impedimentos incontornáveis: o mais decisivo foi a sua quase cegueira. Desde que se lembra, desde os tempos de infância, Rui Nunes nunca tivera uns olhos saudáveis. A uma miopia progressiva, degenerando numa cegueira funcional, somaram-se outras falências orgânicas com as quais o autor aprendera a lidar, não sem desagradáveis surpresas: arritmias, problemas cardiovasculares, graves problemas de mobilidade, a colocação de um pacemaker, pulmões que se enchem de sangue, idas frequentes ao hospital, vigilância clínica apertada. Um detalhe: para tornar possível a leitura, Rui Nunes recorre a uma lupa electrónica que amplia exponencialmente o tamanho dos caracteres (há um breve documentário no YouTube, intitulado Mensageiro Diferido, que o comprova).
Se me detenho nestas marginalidades biográficas, faço-o por motivações fecundamente endógenas: porque é Rui Nunes quem escreve, em Nocturno Europeu, que «Não há a Verdade. Há unicamente um olhar que diz o que vê» (2014, p. 89). E este olhar tem convivido de perto com a constante ameaça de, um dia, deixar de ver em absoluto. A mesma ameaça torna-se, por isso, determinante para o modo como o gesto de escrever se realiza, num exacerbamento obsessivo dos múltiplos detalhes e ínfimos pormenores que invadem o campo de visão, para de imediato desaparecerem «com um pequeno bater de pálpebras» (p. 145), engolidos pelo excesso de luz, pelo derrame coagulante que compõe a claridade, «como se a luz odiasse aquilo que mostra» (Os Olhos de Himmler, p. 107).
A própria matéria de que é feita a sua escrita não escapa à visão ferida, à ferida como um modo distinto de aceder ao real, à cegueira enquanto condição de possibilidade para uma escrita outra. Por isso, sem surpresa, surge uma passagem como esta num outro livro do autor: «eu sinto a morte quando me calo, ou quando não escrevo, e escrevo sempre a soletrar o que escrevo, e leio sempre a soletrar o que leio, às vezes vêem-me e dizem : parece que não sabes ler, lês como se as palavras te fossem difíceis ou estranhas, toda a minha vida tem sido a aprendizagem desta estranheza, cada vez me é mais difícil ler e falar, significa isto que estou cada vez mais perto da morte, mas persisto, contra esse cancro, essas valas, esses lenhos, esses cortes, contra o medo que são as palavras na minha boca, como pedras, quanto mais as penso, mais elas endurecem, grandes rochedos que me tapam o mundo […]» (Ouve-se sempre a Distância numa Voz, p. 139).
Palavras «como pedras», assinala Rui Nunes. Quanto mais nelas se pensa, mais «endurecem» as palavras. A comparação não é uma ocorrência inédita: Rui Nunes regressa uma e outra vez a esta analogia em livros como A Mão do Oleiro (2011), Barro (2012) Nocturno Europeu (2014). Se ver é estranhar, é também precisamente por isso: por se fazer das palavras corpos, corpos petrificados, fechados na sua imperturbável opacidade. Pedras que tornam imanente o real dos dias, que fazem da linguagem um chão rasante que se pisa, onde as falas, os corpos e as coisas adquirem, num mesmo lance impetuoso, a sua tonalidade física e a sua fugaz evanescência. Pedras, no fundo, que acentuam a qualidade arenosa, granulada, diferenciante, de uma escrita que oferece resistência, que impõe o seu atrito constituinte, dando a cada palavra «a aspereza de um vidro riscado» (Nocturno Europeu, p. 11). Até que se atinge um tal grau de insuportabilidade existencial, que a espessura da pedra, longe de servir como metáfora ou mero adorno poético na escrita, contamina a própria estrutura ou a substância ontológica dos múltiplos eus ou desdobramentos subjectivos, situando-os, segundo Manuel Frias Martins, «numa espécie de tempo suspenso» (in O Romance Português pós-25 de Abril, p. 242): «O tempo está parado e ela passa por ele como uma interrupção, a cada pessoa parada envolve-a este ar de pedra, preenche-lhe a garganta o peso irrespirável do hausto, a boca aberta, espantada, respira a asfixia» (Grito, p. 54).


4.
Um autor como Rui Nunes não consegue escrever de outra maneira: a não ser com o corpo «oscilando […], descobrindo a cada passada as vacilações, a morte que te frequenta prematura» (O Mensageiro Diferido, p. 20). A não ser «com o vagar de um tempo que tem o tempo todo para construir as suas ruínas» (Os Olhos de Himmler, p. 24). Não consegue ver as coisas senão através de um par de olhos míopes, esses «instrumentos de deformação que amachucam as letras do livro e as empastam, dissolvendo-lhes os contornos» (Que sinos dobram…, p. 8). Não concebe outro modo de expor verbalmente o que vê senão encorpando uma escrita contínua, como se de livro em livro Rui Nunes apenas intensificasse o teor das suas obsessões, mostrando-as sob novos ângulos: obsessões ligadas à brutalidade física do corpo, às pequenas tragédias das relações afectivas, às grandes tragédias dos grupos humanos (guerras, extermínios, cadáveres que ficam por vingar). Mas também as obsessões que se prendem com a linguagem, a minúcia vigilante sobre o poder das palavras – o «desejo de fugir aos pequenos hitleres que pressentia abrigados na minha sombra» (O Mensageiro…, p. 11) –, o efeito desrealizante do discurso linguístico, ou o clamor dramático de nos descobrirmos expropriados até do que assumimos ser irredutivelmente nosso, constitutivo de uma identidade, de uma pátria ou de um ínfimo mas indefectível eu: «nunca somos nós, somos sempre alguém que nos desconhece, o lugar de uma voz anónima» (Grito, p. 109); «sou um sítio, se você olhar para mim só vê um sítio rodeado de um olhar, eu, a bem dizer, sou coisa nenhuma» (Cães, p. 126).
Rui Nunes mostra como todas as certezas se desunham por esconder o estado de oscilação que constitui a sua raiz. Mostra, precisamente, a solidão deste gesto, de qualquer gesto, que se esgota na sua ostensibilidade: uma mão que desfere desenhos no ar, uma voz que se levanta para colocar uma questão, o ápice de um pássaro que acentua a feição acidental, absurdamente arbitrária, de uma ocorrência que queremos crer significante. Ver é sempre estranhar. É uma afirmação das distâncias intransponíveis entre as coisas, ou entre as coisas e os nomes que lhes damos, ou entre nós e os outros: «nós sentamo-nos encostados à parede e olhamos o vazio à nossa frente que nos expulsa uns dos outros / um chão como um poço» (Ouve-se sempre a Distância numa Voz, p. 38). Ver é estranhar porque afirma a absoluta solidão em que se está quando se atribui a uma coisa um nome que a identifica: «dá-se a morte a um nome, dizendo-o? / sim. Um nome é o nosso segredo» (idem, p. 122).
5.
Mas se ver é estranhar, é também porque põe em relevo formas de vida, mesmo que inertes, que de outro modo permaneceriam ocultas e desconhecidas. Significa reabilitar, na contingência mais insalubre ou mais anódina, no ângulo morto de um olhar, um nicho insuspeito de possibilidades, um mapa que reorganiza a pequena face do mundo e propõe outros trilhos a percorrer. Não há sentidos esgotados, derrotas consumadas: apesar de tudo, o movimento da escrita não cessa de desejar, de se desejar. Ele, o desejo, «é inesgotável, / enquanto o corpo dos outros permanecer um enigma. […] / Porque há um núcleo inexpugnável em cada corpo: beija-se, fode-se, arranha-se. Mas ele permanece. Um muro eriçado de vidros» (Barro, p. 46).
Um núcleo inexpugnável: não o que é indizível, como um silêncio apolíneo, mas antes o que resiste ao embotamento de tudo o que se diz. E que fulgura por ser aquilo que é, na sua singularidade. A este nível, há uma oposição estruturante que atravessa o universo de Rui Nunes, passível de se desdobrar nestes termos: a diferença entre descrever e mostrar, ou entre contar histórias e dizer as coisas. Vejamos este exemplo: «[…] o sr. Ângelo não contava histórias, contava coisas, isto é, descrevia os sons, a consistência da madeira, os seus nós e veios, a dureza quebradiça das folhas, o número de ossos que há num pardal, e ensinou-me que nunca esgotamos uma coisa, que podemos passar a vida inteira a dizê-la, que uma coisa é um mundo tão grande como o maior dos mundos, quer dizer, […] as histórias acabam quase sempre da mesma maneira, há três ou quatro modos de acabá-las, e depois, tudo se repete, pelo contrário, as coisas são sempre diferentes umas das outras» (Ouve-se sempre a Distância numa Voz, p. 125).
Tal como Joyce, mais do que encadear narrativamente, numa lógica linear, uma sucessão de eventos, Rui Nunes distribui pela sua escrita uma constelação de epifanias. Coisas mínimas, mas de grande pregnância expressiva. Coisas que os seus olhos perscrutam com a intensidade e o alvoroço de quem investiga, de corpo inteiro, grutas e cavernas em proveniências remotas. A tudo é dado uma radiância pueril: «uma coisa é um mundo tão grande como o maior dos mundos», quer dizer, uma coisa é em si mesma um mundo inesgotável. E não é uma coisa só; são muitas coisas, todas as coisas. A vertigem começa a despontar, os olhos retinam sôfregos. Olha-se humildemente para a terra, para um torrão despegado num sulco, os fios de erva revestidos de cinza, a película de pó que é a cor da secura. A pequena luz nas gotas de água, numa consistência de metal fundente, que o orvalho depõe na pele curvada das folhas, no viço pujante das couves. «E eu estava sempre a aproximar os olhos de tudo: no meio de um mundo enevoado, outro surgia, nítido» (Barro, p. 59).
Do espanto à alegria, o hiato é inexistente. O corpo que experimenta a vida deste modo transforma a pele numa superfície proliferante de olhos – e onde quer que a luz incida, consoante a intensidade, há uma promessa de júbilo, um convite à descoberta. Repara na pequena vida que brota dos nódulos na parede de cal, nas manchas verde-escuras de humidade que escorrem de paredes antigas. O infinito descola-se da miragem de céus inacessíveis, a eternidade morre precisamente aqui: na insolência dos deíticos, no apogeu de cada instância, isto, aqui, agora. Morre e recomeça. Resíduos, carquilhas, tecidos amarfanhados. Como nas dobras e nos drapeados barrocos, há uma impressão de movimento contínuo, uma vibração que impacienta o mundo e os súbitos entalhes em que um olhar pousa e se demora. As coisas vibram, na pequena vida breve e pujante que as anima. A linguagem vibra: o uso de enumerações e a técnica da hipotipose reificam verbalmente a sofreguidão dos ânimos, modalizam o «excesso coerente» pelo «prazer da incontinência», segundo Umberto Eco (A Vertigem das Listas, p. 279).
Rui Nunes declina capturas exaltantes sem ceder retoricamente à exaltação, à complacência romântica: escrever ressumbra o concreto em segmentos declarativos. Não se trata de realismo, mas tão-só da realidade. Da relação com o que de mais íntimo e de mais exterior esplende na matéria. Amar a vida, não o sentido que a vida venha ou não venha a ter. Apetece por isso dizer tudo, ver aflorar em cada traço, ritmo, mancha, som, a nitidez primitiva de um nome, a sua evidência sem equívoco. Ver aflorar em cada intervalo o fragor lumínico de uma vanitas barroca, a abundância esplêndida do que é diverso num súbito retalho de luz: «um ouriço a atravessar a estrada, uma noz caída no passeio, um botão partido num casaco, uma formiga a carregar uma erva, uma casca de laranja no banco de pedra, uma casca de laranja no banco de pedra, uma casca de laranja no banco de pedra. Eram os pormenores que faziam o mundo. Eram também a sua bússola: ia de pormenor em pormenor, como quem vai de uma paragem a outra. Como quem respira» (Os Olhos de Himmler, p. 70).



6.
São pequenas ilhas de júbilo, breves concentrações irradiantes de um excedente inesperado de vida. De resto, em redor, tudo é devastação.
Ler os livros de Rui Nunes implica forçosamente assumir a verdade inequívoca dessa devastação. A violência do que escreve é, neste aspecto, incomparável. Seja a nível vocabular, na escolha ferina das palavras e na sua articulação astuciosa, produzindo imagens absolutamente terríficas: «o silêncio é uma sufocação, ou uma bexiga de porco prestes a estoirar» (Ouve-se sempre…, p. 32); «Uma casa é de cima a baixo a disciplina do ódio» (Nocturno Europeu, p. 13); «um osso exposto / fractura quem o vê?» (A Crisálida, p. 37). Seja pela obstinação desapiedada, movida por um imperioso sentido de justiça, de um olhar detido nos cúmulos do horror contemporâneo: «eu quero é matar estas palavras cheias de perseguições, de campos de concentração, de câmaras de gás, de choros, de uivos, de cóleras, o que eu quero é acabar com as palavras de todo o poder, porque o poder fala sempre da mesma maneira, nele as palavras têm sempre o mesmo som […]» (Ouve-se sempre…, p. 103).
Ao ousar ser testemunha da devastação em curso, a escrita faz-se de «bocados», «restos», «sobras». Não vai além de um «esboço», ou conjunto de «esboços», «com a persistência do que nasceu incompleto» (A Crisálida, p. 30). Irrompe a partir dos «escombros» e «com os escombros», que Rui Nunes investe contra a «literatura» – «que é a escrita instalada na infâmia» porquanto espelha «a gramática do poder» (Barro, pp. 51-2). A escrita não se reduz à instância potestativa do significado. Pelo contrário: agudiza uma fisicalidade brutal e humilha na linguagem o que se presta apenas ao redil comunicativo. «Por isso», continua o autor, «os transgressores são um som sem eco. Joyce, por exemplo. O respeito pela língua é o nojo de um texto. Escrever contra.» (idem, p. 52).
Joyce, por exemplo. Um som sem eco. Escrever contra. Regressamos ao autor de Ulisses, ao infinito contido num grão de areia, à errância de um homem comum, de carne e osso como qualquer outro, sem halo divino nem toque de Midas, entrando e saindo de cafés soezes, bordéis, retretes, cismas. Uma proeza épica no século XX não passa necessariamente por se escapar são e salvo aos escombros da guerra de Tróia, como o herói de Homero, tendo pela frente dez anos atribulados que o mantêm longe da Ítaca natal e dos braços ansiosos de Penélope. Pelo contrário: épica é a jornada de quem sobrevive às contingências diárias, adiando ao máximo, como Leopold Bloom, o regresso à própria casa por saber que, na cama do quarto, só tem à sua espera uma mulher que o trai, os lençóis quentes e amarfanhados pelo vestígio de um corpo que não é o seu.
Regressa-se a uma casa onde não se é esperado, nem sequer desejado. Regressa-se para constatar em todos os espelhos o brilho sujo de um engano, a ilusão em que o reconhecimento se desfaz. Como Ulisses, na Odisseia, «ninguém» é o nome que nos assina, que nos assassina. É a barata esdrúxula na manhã sombria de Gregor Samsa, de Kafka: o limiar imperceptivelmente malévolo em que um auto-retrato, de súbito, deixa de testemunhar uma certeza, ainda que frágil, a respeito de quem somos, ou de como nos vemos e nos julgamos vistos, e passa a consignar um derradeiro gesto em suspenso, numa aflição inacabável. Rui Nunes é, também por isso, um exímio retratista, apanhando in acto a indistinção ou a indecidibilidade entre uma cara e um assombro: «Um dia, de manhã, ao fazeres a barba, ver-te-ás ao espelho – é o que acontece nos romances – e, de súbito, afligir-te-ás com o que vês: a cara emaciada, a pele senil, o cabelo ralo e quebradiço, películas de caspa nas sobrancelhas, tu, de repente cheio de um tempo tão perceptível, tão observável, que te sentirás quase tentado a tocá-lo, “este sou eu?” e aquele serás tu, porque mexe os olhos quando os mexes, franze a testa quando a franzes, move os lábios enquanto falas.» (Que sinos dobram…, p. 17).
Entretanto: «um som sem eco», diz Rui Nunes de Joyce. Um som sem eco eclode. Com a estridência irredutível de um baque, de uma queda inútil que atesta, somente, a densidade e o peso de um corpo. Como escrever isto, assim? E a pergunta que se segue: como não ter medo de escrever isto, assim? Como dizer esse medo sabendo de antemão que não há transparência impoluta nas palavras? Que dizer o medo é desde logo adulterá-lo, fazendo uma esquiva, enxertando neblinas que embotam, ou amaciam, a angulosidade do que é nítido, o golpe que freme na insolência?
Num dos seus diários, Albert Camus reproduz uma interação de William Faulkner a propósito do aparente niilismo que parecia ter invadido a literatura do seu tempo. Para o autor de The Sound and the Fury, a nova geração de escritores parecia ter sido incapaz de produzir algo de radicalmente novo, ficando sem «nada a dizer». E qual o motivo dessa letargia? «O medo», respondeu em seco o autor. «O dia em que os homens deixarem de ter medo, então recomeçarão a escrever obras-primas, quer dizer, obras duráveis.» (Cadernos III, pp. 141-2). Parece, e talvez seja, uma afirmação bisonha, mas não deixa de ser uma banalidade certeira, que sobrevive ao restolho das décadas. Rui Nunes disse praticamente a mesma coisa em 2013: «Aquilo que me perturba é ler textos e perceber que, desde a escolha das palavras, há autores que revelam ignorância da realidade. Há ali uma falsidade total, porque as palavras nomeiam coisas, mas essas coisas […] [são] abstracções. […] A verdadeira escrita começa sempre por algo de esplendoroso. A verdade começa sempre por algo de muito pessoal, e a verdadeira escrita conta aquilo que sabe, que viu e viveu. Esse é o princípio» (jornal i, em linha).
Uma belíssima e certeira banalidade, de facto. Mas às vezes é o que temos: este gesto insolente de pobreza que atrai a palma dos pés ao ladrilho do chão, um coágulo de luz que a transparência baça das janelas imprime no vazio da parede, seduzindo, sem porquê, um olhar distraído. Acossa-nos o medo de trazer a lume estas palavras, dispondo-as num enredo aparentemente frívolo, de uma inútil desfaçatez. Esquecemo-nos, amiúde, de que são também banais os gestos de Ulisses em Homero, as braçadas que dá no mar para chegar à praia dos Feaces e chorar, transido de medo e de impotência. Esquecemo-nos de que são banais as louças postas à mesa nos jantares da Guerra e Paz, que os mortos empilhados por Tolstoi na descrição das batalhas contra Napoleão são de carne perecível, com um esqueleto dentro, que se tornará indiscernível de todos os ossos que engrossam a terra. Esquecemo-nos de que são banais a luz, o ar, o perfume do orégão, mas nem por isso Sophia de Mello Breyner os evitou para trazer a lume a justeza dos seus poemas. É por aí que nos tornamos contemporâneos do que lemos.
Na sua irremediável miséria, no reboco onde ficam a boiar as horas mortas, as pequenas vidas dentro da vida não ficam catalogadas na museologia da História, nem são actos de heroísmo conscientes de o serem. (Tolstoi percebeu isto muito bem no escrutínio a que submeteu os grandes e os pequenos gestos na Guerra e Paz.) O mais da vida é feito, essencialmente, de tédio, vulgaridade, indiferença apenas. Sem hipérboles. Quando não se tem um deus a quem endereçar as preces; quando da crença apenas nos resta o sarro da angústia e o ruído branco das noites em claro; quando se aprende a avançar pelos dias de ossos gelados após a renúncia a tudo o que é sedativo messiânico, a tudo o que descende, como declinações que o hábito tornou rombas, do gume brutal dos extermínios, a tudo o que é cagança de lacaios e semideuses, carregando entre poleiros os baldes de saliva com que mantêm oleados os cus de serviço e outros cus em ascensão; – contra tudo isto, o mais da vida é, essencialmente, nada. Um vapor, um latido ao longe, o hálito quente da pessoa ao lado. Mas ainda assim, apesar das desumanizações em curso (entre quais, a destruição da sensibilidade, o não saber estar a sós, o absolutismo digital), estes nadas acentuam num gesto fortuito uma leveza tocante, sobressaem nas ralas inocuidades o vago consolo de se viver, quando não de se estar vivo.
Talvez «banalidade» seja a palavra errada, ou a pior de todas palavras, mais ou menos familiares, para tocar no que se pretende pôr aqui em relevo. Pior a emenda que o soneto se da banalidade se resvala para o caldo indiferenciado em que a cultura mistura tudo, homogeneamente, espessando o conformismo. Não obstante, eis o que fica: apreender uma força de vida acerada, o fulgor de epifania que revela as descontinuidades, os hiatos, os solecismos onde infalivelmente nos achamos. Nada disto parece ser um drama bloqueador em Rui Nunes: tudo se dá porque tem forçosamente de ser dado. Consciente dos medos, mas implacável contra eles, ou à boleia deles, servindo-se deles para, tal como Penélope, fazer e refazer todas as noites a tessitura do que escreve. «Temos medo. / Temos mundo», condensa o autor na página 99 de Nocturno Europeu. E é, por tudo isto, que Manuel Frias Martins tem razão ao afirmar como «[nas] obras de Rui Nunes [se] concentra toda a memória da literatura enquanto representação imaterial do homem e da experiência», motivo pelo qual «Rui Nunes é a literatura no seu estado mais puro e, contudo, mais contundente no alcance humano dos seus percursos imaginativos» (in O Romance Português pós-25 de Abril, p. 243).
Referências
Birmingham, Kevin, The Most Dangerous Book. The battle for James Joyce’s Ulysses, Londres, Head of Zeus, 2015.
Camus, Albert, Cadernos III, trad. António Ramos Rosa, Lisboa, Livros do Brasil, s.d. [1964].
Eco, Umberto, A Vertigem das Listas, trad. Virgílio Tenreiro Viseu, Lisboa, Difel, 2009.
Joyce, James, Ulisses, 2.ª ed., trad. Jorge Vaz de Carvalho, Lisboa, Relógio D’Água, 2014 [1922].
Martins, Manuel Frias, «Grito, de Rui Nunes», in Petrov, Petar (org.), O Romance Português Pós-25 de Abril – o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (1982-2002), Lisboa, Roma Editora, 2008, pp. 241-6.
Menard, Louis, «Why We Are No Longer Shocked by “Ulysses”», The New Yorker, 16-06-2016, em linha: https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/why-we-are-no-longer-shocked-by-ulysses.
Nunes, Rui, Que sinos dobram por aqueles que morrem como gado?, Lisboa, Relógio D’Água, 1995.
_______, Grito, Lisboa, Relógio D’Água, 1997.
_______, Cães, Lisboa, Relógio D’Água, 1999.
_______, O Mensageiro Diferido, 2.ª ed., Lisboa, Relógio D’Água, 2006 [1981].
_______, Ouve-se sempre a Distância numa Voz, Lisboa, Relógio D’Água, 2006.
_______, Os Olhos de Himmler, Lisboa, Relógio D’Água, 2009.
_______, A Mão do Oleiro, Lisboa, Relógio D’Água, 2011.
_______, Barro, Lisboa, Relógio D’Água, 2012.
_______, «Rui Nunes. “Não basta compreender o terror. É preciso participar dele”», entrevista concedida a Diogo Vaz Pinto, jornal i, 02-09-2013, em linha: https://ionline.sapo.pt/362837.
_______, Nocturno Europeu, Lisboa, Relógio D’Água, 2014.
_______, (ou, transigindo, de que lado passarás a morrer, a clarear)?, Língua Morta, 2014.
_______, A Crisálida, Relógio D’Água, 2016.
Fotografias: Diogo Martins
1ª Página. Clique aqui e veja tudo o que temos para lhe oferecer.
VILA NOVA: conte connosco, nós contamos consigo.
Se chegou até aqui é porque considera válido o trabalho realizado.
Apoie a VILA NOVA. Efetue um contributo sob a forma de donativo através de mbway, netbanking ou paypal.
MBWay: 919983484
IBAN: PT 50 0065 0922 00017890002 91; BIC/SWIFT: BESZ PT PL
Paypal: [email protected]
Envie-nos os seus dados fiscais. Na volta do correio, receberá o respetivo recibo.
Gratos pelo seu apoio e colaboração.
Pub
Acerca do Autor
Artigos Relacionados
Comente este artigo
Only registered users can comment.