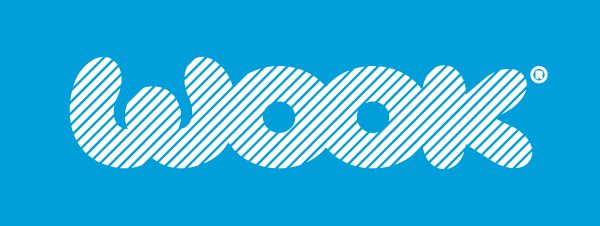“Estou constantemente a tentar comunicar qualquer coisa incomunicável, explicar algo inexplicável, contar aquilo que apenas sinto nos meus ossos e que só nos meus ossos tem expressão.”
Kafka, carta a Milena (1921)
“Assim, o poeta é uma figura trágica. O poema é sempre o registo de um fracasso.”
Ben Lerner, Ódio à Poesia (2017)
Uma das mais recentes apologias das humanidades chegou da melhor forma: aquela que não reclama para si os holofotes e os aplausos, mas o suposto prestígio de unificar os mortais sob a égide gregária das artes e das letras.[i] Por outras palavras: salvem-nos dos salvadores, defendam-nos dos defensores, com a boca cheia de verdades universais e meia dúzia de frases feitas (Fernando Pessoa a rivalizar com Paulo Coelho…) para adornar a condescendência tácita e onanista a que, por cá (mas não só), vamos votando a dita “cultura”, o dito “saber humanístico”, o chavão do “saber crítico”, perversamente fetichizados para cumprir outras agendas, com segundas e terceiras intenções. Salvem-nos desses autoproclamados gurus e tragam-nos, de vez em quando, a inquietude silenciosa e o ofício obstinado de Amy Adams no filme Arrival (em português, O Primeiro Encontro), de Denis Villeneuve (o mesmo realizador de Blade Runner 2049, atualmente em exibição nos cinemas).
Adams é Louise Banks, uma linguista de renome, que é convocada de urgência para servir de intérprete no primeiro contacto entre seres alienígenas e a nossa espécie. Em plena crise geopolítica e demais convulsões (com ênfase num general chinês que, à revelia da ONU, se sente tentado a atacar uma das doze misteriosas naves espaciais), o mundo resiste, tanto quanto a força de hábito o ensinara, ao assombro sucessivamente reciclado de se saber no fim dos tempos ou, melhor, nos tempos do fim (confronte-se esta atmosfera do filme com uma franja da atualidade mediática do nosso último semestre, contando o número de notícias que foram disparadas para anunciar o apocalipse: o próximo, leio eu aqui na net, é no próximo domingo, dia 15 de outubro).
Entretanto, a resistência do mundo (ou a resistência ao mundo enquanto prenúncio de fim a raiar o irreversível) parece fazer-se com base na iminente resistência de que se reveste a comunicação: seja a comunicação entre humanos, seja a que se trava, com as necessárias demoras de aprendizagem, entre aqueles e as criaturas vindas do espaço sideral. Não obstante, comunica-se: solecismos, sismografias, hiatos, síncopes, a gaguez constituinte da comunicação (palavras levadas ao limite dos seus significantes e significados) – os abalos da imperícia que têm ditado a ruína e as sobras vivas de qualquer civilização, com todas as armas & os barões assinalados na busca desenfreada por tomar o que é alheio, com ou sem a bênção de Deus. Comunica-se entre espécies, ao mesmo tempo que se aprende a compreender a resistência constitutiva das palavras, da fonética ou, no caso específico deste filme, das imagens circulares que se desenham numa superfície vítrea, como bizarros oráculos indecifráveis. E, entretanto, quando esta indecifrabilidade comunicativa se afasta do deslumbramento infantil pela diferença e começa a ser temida e tida por ameaça, a diplomacia entre espécies começa a desmantelar-se – e a intriga do filme agudiza-se.
[i] Ao fazer a primeira revisão deste artigo e, em particular, do primeiro parágrafo, não pude evitar ser assombrado pelo poder evocativo da descrição que fiz em consonância com a personagem de Javier Bardem em mother!, o mais recente filme de Darren Aronofsky: Bardem é um poeta que, no início do filme, nos surge agoniado por uma crise de inspiração (o chamado writer’s block), até finalmente conquistar a inspiração necessária para escrever um poema com repercussões tenebrosamente apocalípticas (literal e figurativamente falando), com um séquito de fãs à mistura, que parece concretizar a equivalência do Padre António Vieira: o poeta é profeta, um ser especial nimbado por deus. Deixo aqui intencionalmente esta nota de rodapé, uma vez que tenciono fazer de mother! a porta de acesso ao meu próximo artigo.
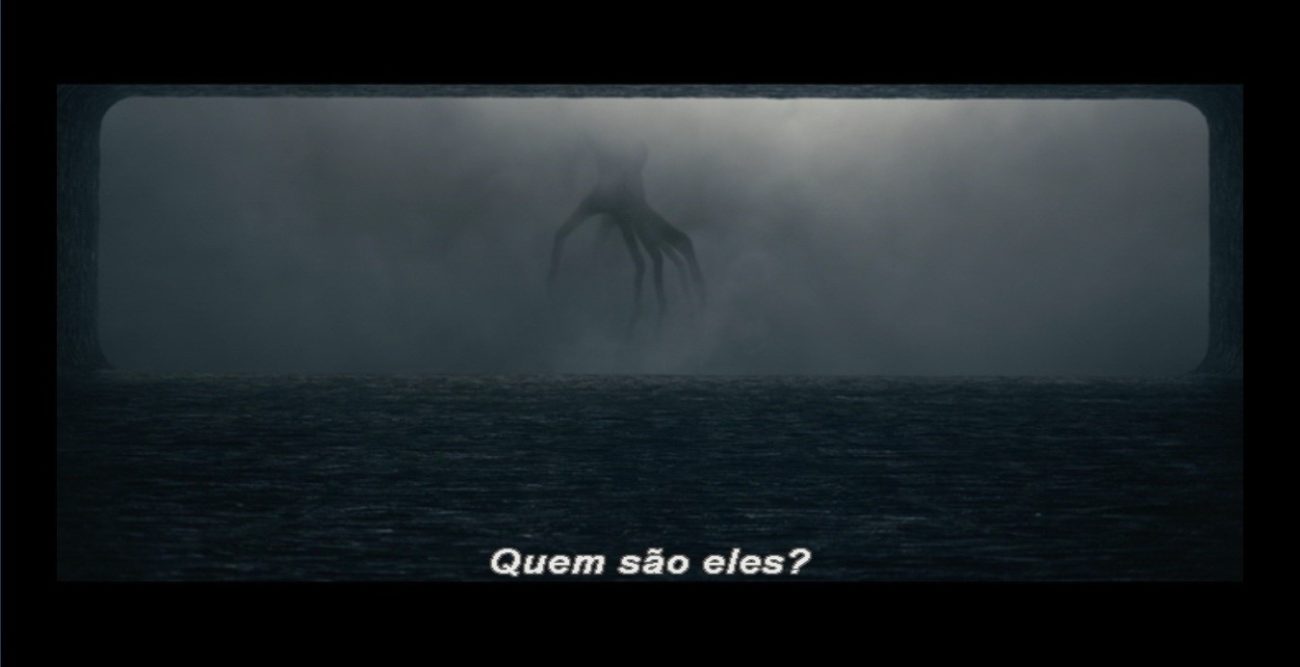
Mas volto ao início, ao ponto que me é fulcral: chamaram uma linguista para tentar salvar o mundo. Poder especial: as ciências humanas, a linguística, a inteligência sensível, a empatia. O filme é ficção científica, como é ficção científica imaginar pisar a Lua, fazer voar a passarola de Bartolomeu de Gusmão ou haver cerca de trezentos leitores de poesia em Portugal (contra os cinquenta mil que escrevem e leram pouca, pouquíssima, poesia). E é neste horizonte de sentido que pretendo pensar as humanidades e, de modo mais específico, a poesia: o de serem (ou deverem ser) materiais de resistência, pontos de atrito, instâncias que requerem imperativamente opacidade, zonas de sombra, climas de turbulência. Materiais de escrita (ou a matéria da escrita) que, ao serviço dessa resistência comunicativa (o não deixar-se traduzir facilmente, o não ser facilmente digerível), insistem laboriosamente em fazer falar (e em fazer ouvir, fazer ver) uma espécie de silêncio conquistado no corpo das próprias palavras: exercendo sobre estas uma violência vital, buscam extrair esse silêncio do interior da própria linguagem e à revelia de todo o ruído com que vamos colando sentido às coisas para assim garantirmos a nossa sobrevivência, a nossa razão.
Este silêncio: a procura na própria língua (pela qual comunicamos) de uma língua nova, uma língua menor (segundo Deleuze e Guattari): não inferior, não subalternizada, mas menor, isto é, na trincheira da língua (e do pensamento) comum, descentralizada, desterritorializada, contra a ideologia dominante (ou “arrogante”, diria Barthes), avessa ao ruído do mundo, da comunicação, do querer-dizer (o sentido de x é y, isto significa aquilo, etc.). Um silêncio que, mesmo na sua aparente e inaudível simplicidade expressiva, dá voz à integridade de uma guerrilha. (Por outras palavras: o que é pessoal devém político.)

Resistência, atrito, opacidade, sombra, turbulência. Silêncio. E acrescento: poesia. Seria, porventura, um sumário estranho para uma aula de português (e estranheza constitui, igualmente, mais um substantivo potente para acrescentar à lista, assim como estes: “aventura, fuga, desterritorialização, capacidade de ruptura”, segundo a proposta de Silvina Rodrigues Lopes, em Literatura, defesa do atrito, 2012, p. 22). A angústia da praxe, nestas lides, é sempre a do “sentido”: qual é o sentido deste poema?, o que quererá dizer o sujeito poético com este verso?, o que está por detrás desta imagem ou desta metáfora?, etc. Estamos dependentes do sentido porque homologamos funcionalmente, como neste caso, a poesia e os mais diversos ramos das atividades e das experiências humanas, ao longo das quais, com vista ao entendimento geral, precisamos da premência de haver sentido, sob pena de falhar a comunicação, criar mal-entendidos, gerar conflitos. A inteligibilidade deixa-nos em paz.
“À primeira vista”, prossegue Silvina Rodrigues Lopes, “a poesia, e a arte, deixou de ser pensada como tendo uma função, uma finalidade exterior, mas, se repararmos melhor, verificamos que não é assim: ela passou a ter a função de ser arte, enquanto algo a celebrar como uma plenitude, tal como deus tem a função de ser deus, mesmo se não se pode defini-lo ou descrevê-lo. A confusão vem daí. É que uma obra de arte (Kant viu isso) não tem função nenhuma, e, assim sendo, deixa no mundo espaços vazios, não funcionais. O vazio sente-se, mas nunca se adora, é fundamentalmente divergente em relação a deus” (p. 18, destacados meus).
*
Falhar a comunicação, criar mal-entendidos, gerar conflitos. Deixar no mundo “espaços vazios, não funcionais”. Na verdade, poucas vezes se pensa no facto de a leitura de poesia convocar o fazer a comunicação falhar, o criar deliberadamente mal-entendidos e o potenciar guerras na linguagem – guerras que violentem a domesticação da palavra ao serviço de um referente extralinguístico, a submissão da linguagem às intenções humanas, aos seus sentimentos (o pressuposto de que a poesia é necessariamente “confessional”, fidelizada a uma motivação expressivista, etc. – um equívoco perigoso, por exemplo, sempre que nos manuais de Português do 10.º ano a poesia lírica camoniana surge a emparceirar os textos de caráter autobiográfico).
Condição essencial do acontecimento poético e literário: a sua ilegibilidade, o não fazer cedências paliativas à nossa vontade de ajuizar sobre o mundo, de o compreender, de o totalizar, tornando-o desvelado, liso, transparente. Porque a poesia é, ela própria, uma forma de violência exercida sobre si e contra si: contra esse artigo definido – a poesia – e a ingenuidade universalizante que se lhe afinca, essa tentação de prender ao conceito uma definição minimamente exata, paredes-meias com o que aceitamos como verdade. No entanto: “Por que razão procuramos a verdade, nomeadamente a verdade de um poema?”, questiona-se Pedro Eiras. “Não digo que devamos procurar a mentira, a leitura mentida do poema, pois esse seria o mesmo gesto. Pergunto só por que razão procuramos razões, qual é a verdade de procurar a verdade. Perante o poema, perante o mundo, a ciência só é uma resposta adequada para certas perguntas. Partir do princípio de que o poema deve ser explicado, interpretado, perguntado é enganador. A verdade é apenas uma consequência longínqua, acidental, acessória do poema” (in A Lenta Volúpia de Cair, 2007, p. 16).
Daí que também a autora de Literatura, defesa do atrito considere fundamental prescindirmos da adulação imperativa perante a obra de arte ou o poema (adorar, à letra, é dispor de algo num altar para lhe prestar culto), pois, e sem qualquer paradoxo nisto, “só podemos respeitar verdadeiramente aquilo que não é da ordem da necessidade, como o é o deus que se adora”. O deus que se adora, assim como o dinheiro que se gasta, o pão que se come, a roupa que se veste – finalidades com fim, ao serviço do que é económico, social e religioso. À margem disto, a arte, a literatura, a poesia: tudo coisas inúteis, e justamente inúteis.
*
Mantendo próxima a ideia de indecifrabilidade, declinada a partir da linguagem sismográfica dos aliens de Arrival, é legítimo dizer que o escritor que escreve (assim como o poeta, o pintor, o compositor) escreve para sair das palavras, para rebentar com as frases, a sintaxe, fazendo libertar delas uma potência assignificante inédita. Como diria Deleuze: escreve, não para devir-escritor, mas para devir outra coisa (“como um cão que faz um buraco, um rato que faz a toca”). Devir, metamorfose, criação, alternidade (o caso Pessoa e as suas criações heteronímicas); não imitação, não submissão a um exterior (vida pessoal, acontecimentos factuais, sentimentos, etc.) – mas uma superação desse exterior (até uma superação do eu pessoal quando se escreve na primeira pessoa; rebentar com todo o psicologismo, experimentar possibilidades inéditas de o eu existir, de devir-outro, outros – Pessoa, de novo). Uma superação, igualmente, da própria língua em que se escreve.
Ou seja, um grande escritor, aquele que cria o seu próprio estilo, é precisamente “aquele que não sabe escrever, que não sabe como escrever, e que sente que só pode fazê-lo na condição de desrespeitar aquilo que passa por ser um estilo, de desrespeitar a própria língua em que escreve, de criar, a partir dela, uma outra língua” (Sousa Dias, in O Riso de Mozart, 2016, p. 195). O caso de Saramago, por exemplo. O caso de Rui Nunes.

Posto isto, a poesia não se faz para traduzir, ou exprimir, o real, esse universo pretensamente exterior à linguagem. Pelo contrário, a poesia cria o seu próprio real e, por isso, acrescenta um real a outro real. Produz ontologia, é “ontologicamente instituinte” (Sousa Dias). Potencia novos mundos ao mundo (Ruy Belo: “Toda a grande poesia é uma cosmologia”), numa experiência que procura superar os próprios confins da linguagem a partir de si mesma. Como afirma Jean-Luc Nancy, “o que resiste com a poesia […] é o que, na língua ou da língua, anuncia ou contém mais do que a língua. Não da «sobre-língua» nem da «além-língua», mas a articulação que precede a língua «em» si mesma […], e, sem dúvida, algo dessa articulação enquanto «ritmo», «cadência», «corte», «síncope» («espaçamento», «batimento») […] [ou] então, se preferir, inflexão […]” (in Resistência da poesia, 2005, pp. 36-7). (Note-se que Nancy recorre a conceitos associados ao corpo, à respiração e ao movimento humanos. Só este aspeto mereceria um artigo inteiro: a questão do corpo na leitura de poesia, o modo como a poesia convoca um pensar-sentir; mais do que uma leitura, talvez até uma atitude, de verve psicossomática, sem se fechar nos habituais enquistamentos hermenêuticos: símbolos, entrelinhas, pretexto para revisões gramaticais…)
Excedendo toda a emotividade pessoal ou subjetiva, a linguagem da poesia cria emoções – melhor, sensações: sensações apessoais (aquém da psicologia individual), sensações assignificantes (a recusa de um sentido lógico, a negação de um “querer-dizer” inquisitivo), com palavras-imagens (e não “ideias”, “emoções”, “sentimentos”). A poesia cria imagens e visões, dá a ver, por palavras, aquilo que de outra forma permaneceria invisível, não dizível, informe. Dá a ver “a orla de sentido”, segundo a feliz expressão de Nancy: o seu rebordo, a sua margem, esse além-linguagem. Ou seja, o poema diz sempre a sua própria impotência em dizer o que pretende dizer – e quanto mais essa impotência se torna evidente, mais insuperável e mais incrível se torna o poema. Um poema que comunica connosco, ainda antes de o compreendermos.
Faz-se, portanto, como “um excesso de ser sobre o ser”, segundo Sousa Dias, “o indizível da coisa a dizer” (in O que é a poesia?, 2014, p. 26). Uma forma de violentação da língua que torce o dizer num mostrar, num fazer-ver, como numa espécie de captura visual, um instantâneo fotográfico. Uma forma de “alucinar a linguagem” (p. 60), de fazê-la sair dos eixos previsíveis – ou, então, de escavar na própria previsibilidade das coisas, do quotidiano, dos fenómenos comuns da vida (o amanhecer, um jarro de flores sobre a mesa, um homem que passa), uma cintilação que recubra esse caráter previsível de algo nunca antes visto, ou tão-só pressentido mas ainda por revelar verbalmente (o impoder da força poética: esse emudecimento face às coisas, por um lado, esse emudecimento não traduzível por outras palavras que não aquelas que constituem o poema, por outro). E tudo isto – esta captura, este visualismo, esta alucinação – por recurso a palavras, muitas vezes as mais simples (o que acentua o seu efeito desconcertante, a força que tem para nos emudecer). Qualquer coisa assim:
Tanta coisa depende
de
um carrinho de mão
vermelho
reluzente de gotas de
chuva
ao lado das galinhas
brancas
(William Carlos Williams, “O carrinho de mão vermelho”, trad. José Agostinho Baptista)
Ou assim:
Sei
ao chegar a casa
qual de nós
voltou primeiro do emprego
Tu
se o ar é fresco
eu
se deixo de respirar
sùbitamente
(António Reis, in Poemas Quotidianos, 2017)

O que há a interpretar aqui? Que verdade oculta compete a um aluno desenterrar destas areias, qual fóssil ou sarcófago egípcio velando segredos milenares? Que símbolos, que metáforas obscuras, que sinédoques – que retórica, enfim, pode um aluno pôr aqui em marcha para demonstrar as suas competências exegéticas e sair bem-sucedido? Ou que protocolo de leitura deverá o aluno ativar para não ser melindrado pelos corretores dos exames nacionais?
Poderia continuar aqui a inventariar perguntas deste nível, enquanto driblo intencionalmente a amarga ironia em tudo isto. No fundo, a preocupação transversal a este inquérito não é a leitura de poesia, nem tão pouco a sua fruição gratuita (o “ler por prazer”). O problema, aqui, é tão-só o da avaliação (outro campo minado a explorar a seu devido tempo).
*
Uma reação comum, obtida em algumas experiências que realizei em aula, foi a seguinte: “Não há nada a dizer sobre isto”, ou “Aqui [neste poema] não se passa nada!”. Interessante esta ansiedade em forçar o poema a dizer, em comentá-lo à força bruta (justificada pela força de hábito: interpretar um texto para discorrer sobre ele num exercício escrito de avaliação…). Mas destaco o segundo exemplo e as várias premissas aí reunidas: “Aqui não se passa nada”.
Primeiro, a consciência (mesmo que inconsciente ou involuntária) do poema como lugar, como espaço habitável (e que, como antes referi, requer essencialmente de nós algo que supera a ferramenta da cognoscibilidade: requer o corpo todo, um pensar-sentir). O texto do poema não é uma idealidade sem corpo, uma virtualidade alada que o papel resgata do ar: é um aqui, um aqui-agora, uma instância de tempo e de espaço – e nós, como animais sociais, investimos os lugares com afetos, nunca lhes somos indiferentes (mesmo quando a indiferença é o que estamos dispostos a dar-lhes). É um tema caro à fenomenologia e à filosofia do corpo: a reversibilidade da carne, ou como sentimos o espaço exterior enquanto prolongamento interior do nosso corpo, e vice-versa (há um infinito corporal, uma profundidade, que os espaços mais íntimos – por exemplo, o nosso quarto, a nossa casa, etc. –, conseguem acentuar; no fundo, há uma imersão nossa na paisagem: não vemos apenas o exterior; o exterior passa através de nós).
Segundo, o “não se passar nada”: a perturbação provocada pela ausência de narrativa, de um fio condutor que comporte um início, um meio e um fim. Uma qualquer genealogia, uma orientação que nos permita descortinar sentidos, ou preencher o texto com a segurança de haver, ali, uma lógica de fundo. Mais uma vez, a urgência em encontrar algo para preencher esse nada, para liquidar momentaneamente a inquietude ameaçante do nada (sintoma dos nossos tempos: o horror ao vazio, ao prazer da espera, contra a neurotização social, a esquizofrenização ansiolítica dos sentidos, a morte aos “tempos mortos”). Mais uma vez, a urgência em facultar à interpretação a espessura colorida de um evento, de um isto-foi (um certo eu, num certo lugar, à hora x do dia tal, que fez isto, assim e assado…).
*
À falta destes ingredientes, da necessária ganga que nos permita dizer coisas e entulhar o silêncio, o que fazer, então, com um poema como o de William Carlos Williams? O que dizer dele, se a sua leitura não for, pelo menos por agora, razão autossuficiente para consignar a existência do poema enquanto tal? De novo: “Tanta coisa depende / de // um carrinho de mão / vermelho // reluzente de gotas de / chuva // ao lado das galinhas / brancas”. Anote-se avulsamente coisas assim: a economia de meios (poucas palavras) para sustentar uma realidade, que por si só se visibiliza como algo de muito simples, quase tangente, uma trivialidade passível de não ser sequer notada (um carrinho de mão). Ainda respeitante à exiguidade das palavras, a própria exiguidade formal, quase imaterial, do poema: a pequenez dos versos, a escassez de substância visual-verbal, como se a leitura do poema não dispensasse o próprio visualismo vazio da página em branco (o vazio, o nada – o branco da página como elemento participativo da nossa leitura, como fundo inaparente que intervém na visão aparente da forma escrita); como se este vazio ou branco visual cercasse tudo o que há de legível no texto para acentuar, bordejando (cf. Jean-Luc Nancy), a simplicidade e a fulgurância de um acontecimento tão fugaz, tão menor e tão frágil – esse acontecimento que é reparar “[n]um carrinho de mão / vermelho // reluzente de gotas de / chuva // ao lado das galinhas / brancas”.
Depois, outras linhas: o trivial, o rasante, como insuspeito não-poético que, na verdade, ilumina a sua própria poeticidade (o que de poético estaria apenas latente em palavras como “carrinho de mão”, “gotas de chuva” ou “galinhas brancas”; saliente-se que, por cá, Cesário Verde (que lera Baudelaire) já havia reparado nisto tudo, com os seus “ácidos e gumes”). Por outras palavras: esse trivial, esse rasante, iluminam o efeito de real, o efeito visual, que as palavras da poesia agenciam. Dá-se neste poema de Williams toda uma concentração instantânea, “onde”, segundo o poeta Luís Quintais numa entrada do seu blogue, “o contexto é suprimido subitamente, como se tivéssemos interrompido uma conversa ou surpreendido uma conversa, e dela, do seu sentido prático e eloquente, retirássemos um sentido metafísico, enigmático, infranqueável”. Como se apanhássemos a cena deste carrinho no seu puro fulgor, nesse preciso instante em que o objeto mais refulge e mais se destaca de um determinado ambiente; um cenário cujo despojamento, cuja ausência de quase tudo (contexto, opulência, gravitas), parece reclamar outro tipo de presença, uma visibilidade secreta (isso que Luís Quintais diz ser “metafísico, enigmático, infranqueável”).
Que dizer, então, sobre isto, acerca da pura acontecimentalidade deste isto, deste carrinho de mão (a ostensibilidade física dos deíticos: este carrinho, sob esta chuva, ao pé destas galinhas brancas; de novo, uma questão de corpo, de pele, de um aqui-agora)? Que dizer do poema senão que nada há a dizer, exceto ver, ver acontecer, o estar diante a vertiginosa vida invisível e anónima das coisas circunstanciais, das pequenas coisas dispostas à margem, nas margens? Nada a dizer, exceto assistir a essa banalidade, conseguir nomeá-la (libertarmo-nos das palavras em excesso até chegarmos ao mínimo verbal indispensável), trazer a sua indizibilidade para um texto (a revelação ontológica trazida pela palavra poética: aquilo que faz fulgurar no que é banal uma realidade inapercebida), revolucionando silenciosamente o nosso modo de apreender o que é por demais familiar?
*
Voltemos ao início: a linguista do filme Arrival. Comunicação, resistência, indecifrabilidade. Tempo. A demora necessária para reconhecer o outro (extraterrestre) como outro, a sua diferença intransponível, o seu silêncio eloquente, a sua cifra (e é essa uma possível moral de toda a intriga de Villeneuve: o sermos nós, humanos, todos aliens uns para os outros). Tempo, de novo. O obstinado tempo da linguística, o desafio da tradução, o tempo que tudo isso demora, o tempo que tudo isto requer: pensar nisto, consultar livros, relacioná-los, escrever, rescrever, apagar, tentar de novo (e errar o máximo possível). Ter tempo, inclusive, de errar (e tempo para a errância). A paciência para se demorar no ofício de ler, de estudar, de pensar. “And this is the essence of a linguistics expert”, afirma ao The Atlantic Eric Heisserer, o argumentista do filme. “A linguist has this essential problem to solve with people, because patience is the only real virtue in that career, and our increasing need for the immediate understanding, the knee-jerk reaction, the false equivalence, all that happens right away, and is our downfall.” (destacados meus)

Em síntese, eis a minha teoria da conspiração: quem lê poesia e literatura e se sente reconhecido nesta defesa do atrito como condição intrínseca ao gosto por ler poesia e literatura, se a mesma pessoa for mensalmente remunerada para pôr isto em prática (por exemplo, numa sala de aula), é muito provável que, para existir (e resistir ao estado de estrita sobrevivência), tenha que se pôr de costas para o mundo: o mesmo mundo que Heisserer caracteriza pela vertiginosa e implacável fome do imediato. E o tempo da demora, fundamental para a poesia (assim como na diplomacia travada entre a linguista de Arrival e o general chinês disposto a destruir os alienígenas), não é o mesmo tempo do proverbial “tempo é dinheiro”.
Porque o tempo para um carrinho de mão no poema de Williams é um tempo incomensurável. Como professor, não arranjo casas decimais para medir acontecimentos assim, para lhes descontar, num exame escrito, graus a mais ou a menos de intensidade, graus a mais ou a menos de respiração suspensa (esse instante impossível que é o de ficarmos ofegantes quando palavra e referente fingem uma absoluta coincidência, um real absoluto, um excesso de vida – um a mais na vida – que coincide com a indizibilidade própria da morte). O tempo para um carrinho de mão não é, assim, passível de uma avaliação dita rigorosa, quantificada, nos trâmites em que esta se realiza para a disciplina de Português. E tudo isto não é mais que uma meditação sintomática de causas maiores e por demais conhecidas: mais genericamente, como assinala Carlos Alves num recente artigo do Público, “[n]esta mercantilização da educação insuflada por rankings com guerra de matrículas entre as escolas mais bem posicionadas, o dinheiro não fala às humanidades, reféns da valorização económica, cada vez mais definidas como pouco vantajosas, alastrando a incompreensão da sua utilidade e relevância, ante políticas educativas, da ciência e da cultura servis ao utilitarismo neoliberal.”
Apetece desdizer Kafka: na luta entre ti e o mundo, sucumba o mundo.
*
Bibliowebliografia (a título, sobretudo, de convite à leitura):
Carlos Alves, “A mercantilização da Educação: o dinheiro não fala às Humanidades”, Público, 6 de outubro de 2017, disponível em https://www.publico.pt/2017/10/06/sociedade/opiniao/a-mercantilizacao-da-educacao-o-dinheiro-nao-fala-as-humanidades-1786642?page=%2Fopiniao&pos=1&b=list_opinion.
Gilles Deleuze & Félix Guattari, Kafka. Para uma literatura menor, trad. Rafael Godinho, Lisboa, Assírio & Alvim, 2003.
Sousa Dias, O que é a poesia?, Lisboa, Documenta, 2014.
Sousa Dias, O Riso de Mozart – música pintura cinema literatura, Lisboa, Documenta, 2016.
Pedro Eiras, A Lenta Volúpia de Cair, Vila Nova de Famalicão, Quasi, 2007.
Ben Lerner, Ódio à Poesia, trad. Daniel Jonas, Lisboa, Elsinore, 2017.
Silvina Rodrigues Lopes, Literatura, defesa do atrito, s.l., Chão da Feira, 2012.
Jean-Luc Nancy, Resistência da poesia, trad. Bruno Duarte, Viseu, Vendaval, 2005.
Luís Quintais, acerca do poema de William Carlos Williams, acedível aqui: https://luisquintaisweb.wordpress.com/2013/03/04/william-carlos-williams-o-carrinho-de-mao-vermelho/.
António Reis, Poemas Quotidianos, Lisboa, Tinta-da-China, 2017.
David Sims, “Arrival’s Timely Message About Empathy”, The Atlantic, 16 de novembro de 2016, disponível em https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2016/11/lost-in-translation-what-arrival-says-about-empathy/507809/.
Denis Villeneuve, O Primeiro Encontro (título original: Arrival), com Amy Adams, Jermey Renner e Forest Whitaker, argumento de Eric Heisserer, Paramount Pictures, 2016 (DVD).
William Carlos Williams, Antologia Breve, org. e trad. José Agostinho Baptista, Lisboa, Assírio & Alvim, 1993.
(Nota: as fotografias dispostas ao longo do artigo são da minha autoria, excetuando a primeira imagem, que constitui um fotograma do filme Arrival, de Dennis Villeneuve.)
[1] Ao fazer a primeira revisão deste artigo e, em particular, do primeiro parágrafo, não pude evitar ser assombrado pelo poder evocativo da descrição que fiz em consonância com a personagem de Javier Bardem em mother!, o mais recente filme de Darren Aronofsky: Bardem é um poeta que, no início do filme, nos surge agoniado por uma crise de inspiração (o chamado writer’s block), até finalmente conquistar a inspiração necessária para escrever um poema com repercussões tenebrosamente apocalípticas (literal e figurativamente falando), com um séquito de fãs à mistura, que parece concretizar a equivalência do Padre António Vieira: o poeta é profeta, um ser especial nimbado por deus. Deixo aqui intencionalmente esta nota de rodapé, uma vez que tenciono fazer de mother! a porta de acesso ao meu próximo artigo.
*
VILA NOVA, o seu diário digital
Se chegou até aqui é porque provavelmente aprecia o trabalho que estamos a desenvolver.
A VILA NOVA é cidadania e serviço público.
Diário digital generalista de âmbito regional, a VILA NOVA é gratuita para os leitores e sempre será.
No entanto, a VILA NOVA tem custos, entre os quais a manutenção e renovação de equipamento, despesas de representação, transportes e telecomunicações, alojamento de páginas na rede, taxas específicas da atividade.
Para lá disso, a VILA NOVA pretende produzir e distribuir cada vez mais e melhor informação, com independência e com a diversidade de opiniões própria de uma sociedade aberta.
Como contribuir e apoiar a VILA NOVA?
Se considera válido o trabalho realizado, não deixe de efetuar o seu simbólico contributo sob a forma de donativo através de netbanking ou multibanco (preferencial), mbway ou paypal.
NiB: 0065 0922 00017890002 91
IBAN: PT 50 0065 0922 00017890002 91
BIC/SWIFT: BESZ PT PL
MBWay: 919983484
Paypal: pedrocosta@vilanovaonline.pt
*