1.
No Natal de 1996, o meu pai deu-me como presente a antologia Primeiro Livro de Poesia, organizada por Sophia de Mello Breyner Andresen. Já antes havia recebido muitos livros – edições baratas à venda em quiosques, histórias infantis sobejamente ilustradas, os clássicos mais populares, que o meu pai me trazia uma vez por semana, quando regressava do trabalho –, mas esta edição, pelo rigor, pela apresentação cuidada (com direito a fita, em azul, para marcar a página) e até pelo preço, instituiu desde logo toda uma circunstância envolvente e afectiva no acontecimento da leitura, ou da leitura como um acontecimento. Como um recomeço de todas as leituras feitas, espécie de ritual de passagem, novo baptismo. E, não despiciendo, o título do livro, o seu fulgor irradiante: ou seja, a poesia, e o primeiro livro que a ela me levaria pela mão, numa inocência não menos perigosa que a de qualquer comum criança a quem tenham sido dadas condições para, nessa inocência, imaginar, trair o real com a sua verdade mais profunda.
Lembro-me de me demorar tanto nos poemas como nas ilustrações de Júlio Resende, que me serviam de impulso a preencher as tardes com lápis de cor e aguarelas, imitando-lhe a espontaneidade do traço, a relação primitiva com o desenho, a cor, a proximidade terra-a-terra aos materiais da pintura. Por aqueles borrões aguados, pelas manchas de cor excedendo os contornos, os poemas da antologia entravam-me pelos olhos num elo inseparável entre palavra e imagem. Desse elo resultaria, por assim dizer, a verdadeira poética – porque a leitura dos poemas, mais do que um pacto unívoco com a palavra grafada e a promessa da sua compreensibilidade, não existiria sem o êxtase dissoluto de uma leitura que galgasse as margens e as sequências das linhas, das frases e dos nexos entre elas.
Uma leitura que abrangesse, portanto, aqueles riscos patuscos de Resende; uma legibilidade inseparavelmente visual, plenamente sensorial – os contornos ainda trémulos, a água de tinta como que ainda fresca na página, as cores emancipadas de um desejo para o qual, aos onze anos, a inocência se recobre do prazer de não lhe atribuir um nome, de não o sondar sequer, mas de o viver enquanto força, qual anjo da guarda a quem, rezando-lhe ou não, confiamos os dias. E era, em todo o caso, o halo azul daquele objecto, a sua solidez, o menino desenhado na capa – era aquilo a promessa instituinte de ser uma coisa durável no espaço e no tempo. Porque um livro é um objecto da repetição, da substância dos hábitos, memória do ser a ser, sendo por isso memória contra a espectralização dos sujeitos, contra a desmaterialização do mundo. O livro, o seu peso e volume. Uma luz de presença.
Mas outra coisa que retive do contacto com esse livro foi o convite de Sophia no seu posfácio: “Espero que estes poemas sejam lidos em voz alta, pois a poesia é oralidade. Toda a sua construção, as suas rimas, os jogos de sons, a melopeia, a síntese, a repetição, o ritmo, o número, se destinam à dicção oral” (p. 186).
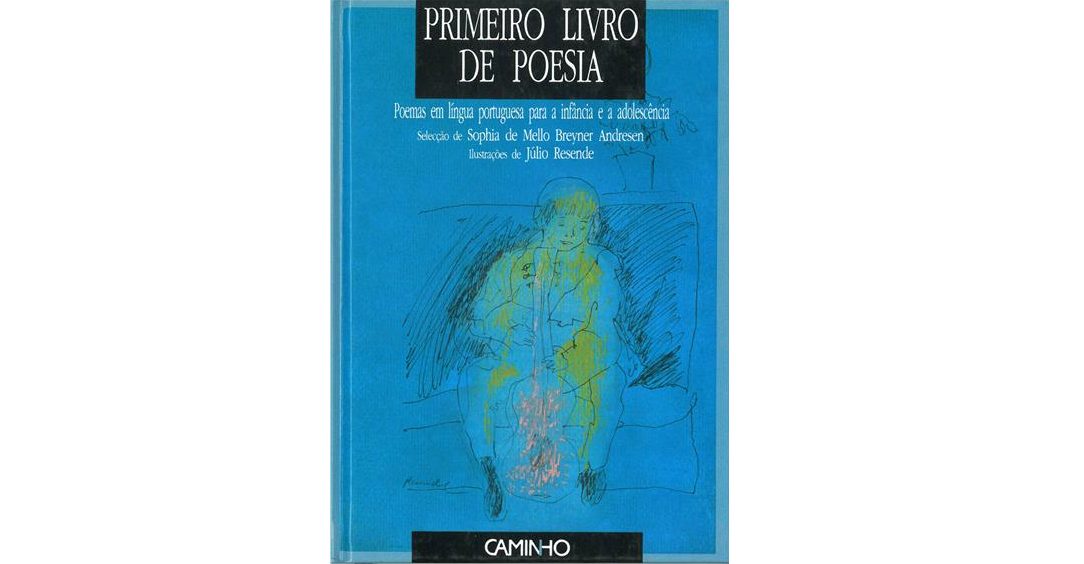
Duvido que tenha lido, de facto, todos os poemas em voz alta. Ao fim de algumas tentativas, cedo me apercebi de uma inquietação obscura em estar no quarto, sozinho, a ouvir o som da minha voz, a minha respiração. Essas experiências acentuavam aquela forma de me isolar do mundo – o mundo dos amigos, da bola que nunca soube chutar em condições, das outras distracções mundanas, entre a piscina e o Dragon Ball –, tornando-me um tanto ridículo, refém de neuroses em estado larvar. Parecia-me estranho, por isso, cumprir com zelo a proposta de Sophia: a irredutível distância entre mim (a consciência de mim, da minha presença) e o som da minha voz (veículo da desapropriação de mim, operador de desdobramento) parecia-me agudizar a distância imanente àqueles textos, como se não os pudesse tomar como meus, de um modo misteriosamente possessivo. Parecia, igualmente, agudizar o fosso e a tensão entre ser um corpo e ter um corpo. E mais: Sophia era já um nome para mim, uma figura que emanava autoridade (estudava-a na escola, o manual de português exibia a sua fotografia); e o apelo à leitura em voz alta caía sobre mim com a solenidade de todas as coacções, como ler na missa, antecipando-me o terrível medo de falhar e de ser humilhado por isso.
No fundo, queria que os livros me permitissem ser o que imaginava conseguir sem eles: invisível. Habitante num mundo só meu, cobiçava tão-só o passe de mágico que, pela ficção, segundo Eduardo Lourenço, consagra “a realidade real, não a dos «textos»”, não fosse a ficção “a forma suprema de tomar a realidade a sério” (in O Canto do Signo, 2017, p. 99). Crescer viria a mostrar o quanto a infância é sempre um lugar ameaçado – e que um mundo só meu é, na verdade, um mundo imensamente povoado.
2.
“Borges dizia que alguns se orgulham das páginas que escreveram, mas que ele se orgulhava daquelas que leu.” Cito Manuel António Pina, numa entrevista. Repito as palavras de um poeta invocando palavras de um outro. Palavras de quem se lê lendo, palavras que nos falam, que nos excedem, dizendo-se em nossa vez, no nosso lugar, pela nossa voz. Palavras, palavras, palavras, muito shakespeareamente falando.
Manuel António Pina também dizia escrever com a cabeça cheia de vozes. As vozes de todos os outros que já escreveram, de todos os livros lidos, mesmo aqueles que o poeta nunca lera: “Porque a literatura é uma arte / escura de ladrões que roubam a ladrões” (in Todas as Palavras, 2013, p. 340). Como quem diz eu e, dizendo-o, se abriga numa casa a céu aberto onde todos os eus, os nossos e os dos outros, os de agora e os de todos os tempos, são uma imensa nuvem fechada, uma bola de ar incrível que passamos de mão em mão, até só restar do jogo a memória de havermos jogado. E depois disso, a dúvida dessa memória, a ilusão e a ruminante incerteza de se ter vivido para lá das palavras com que (nos) nomeamos (n)o passado.
Manuel António Pina declina essa lucidez com a mágoa de se ser estupidamente lúcido, mas sem nunca perder a ternura. A infância, como já em Pessoa se lia, é o nome que se dá às aspirações por cumprir, aos sonhos que não estremecem diante da possibilidade de termos, afinal, os olhos abertos, esses mesmos olhos “das primeiras, das únicas lágrimas” (idem, p. 162). Mas apelar à infância na poesia de Pina é, sobretudo, apelar à palavra, às palavras com que a infância se diz infância. É assistir à vida possível – aquela que a literatura permite –, dando-lhe forma, desenhando a giz o contorno que nos restitui ficticiamente ao corpo que temos. Como uma luz de presença: acende-se a literatura para notar o que já lá estava – a vida, os objectos, nós – quando antes só havia escuro. E escrever é arcar com essa herança, chegando tarde ao lugar onde a literatura nos espera e nos estranha: “Tudo isto (eu sei) é antigo e repetido; fez-se tarde / no que pode ser dito. Onde estavas / quando chamei por ti, literalidade?” (p. 306).
E por isso:
[…]
Agora só quero dormir um sono sem olhos
e sem escuridão, sob um telhado por fim.
À minha volta estilhaça-se
o meu rosto em infinitos espelhos
e desmoronam-se os meus retratos nas molduras.
Só quero um sítio onde pousar a cabeça.
Anoitece em todas as cidades do mundo,
acenderam-se as luzes de corredores sonâmbulos
onde o meu coração, falando, vagueia.
(in Todas as Palavras, pp. 162-3).
Nem rosto, nem molduras: o eu é uma mera hipótese, pronome pessoal à procura da pessoa, ou de uma outra ilusão qualquer, desde que provisoriamente cómoda: aquela onde o eu se esquece tanto do que procura, como da fatalidade de (se) procurar. Uma questão em que já não se é mais, em que se deixa de ser – um des-ser –, para se poder estar, simplesmente estar, enquanto “pura exterioridade”. “Só quero um sítio onde pousar a cabeça”: silenciar as vozes, acalmar os ritmos, fazer de morto. Esquecer o coração, desaprender a linguagem que, aquém das sístoles e diástoles, faz o coração – esse outro vulto, que emerge das palavras para tornar real o coração que em nós é mais mito do que órgão – bater por metáforas, por sentidos ocultos em camadas, o excesso de ser em cada ser. “As palavras depõem / contra o coração, / que não quer dizer nada / nem ouvir nada”, lê-se num poema de Nenhuma Palavra e Nenhuma Lembrança (p. 237).

Dito de outra maneira: citamos com e sem aspas. Elevamos um par de dedos dos dois lados da cabeça, fremindo no ar orelhinhas súbitas e parvas: qualquer coisa assim, mas não tão bem assim, algo parecido com isto, da mesma substância. Talvez seja a mímica das aspas o gesto, por excelência, da nossa consciência dobrada sobre si mesma, assistindo à matéria de que é feita. Como nos assiste um enfermeiro “[pairando] / em silêncio entre as camas. / Como um pastor à espreita / de alguma dor tresmalhada” (idem, p. 193). Assistindo ao desamparo essencial, à noite vertiginosa, ao silêncio de si, com quem não adianta regatear o preço dos enigmas. Essa consciência, tantas vezes desesperada, tantas vezes sem saber que é precisamente a angústia que a move, vê que as palavras nos faltam mesmo quando nos falam. Mas é muitas vezes aí, no lugar dessa não-coincidência, que mais brilha o poema, segundo Pina: “Os poemas com os quais tenho melhor relação são aqueles em que não alcanço bem o que quero dizer, mas sinto, instintivamente, que aquilo é verdade.”
Essas palavras agem como reflexos infiéis, segundo Antonia Pozzi (1912-1938) num dos poemas recolhidos em Morte de uma estação (Averno, 2019):
Palavras – vidros
que infielmente
reflectis o meu céu –
pensei em vós
ao anoitecer
numa rua sombria
quando sobre as pedras da calçada caiu uma vidraça
e durante muito tempo os estilhaços
espalharam luz pela terra –
(p. 103).
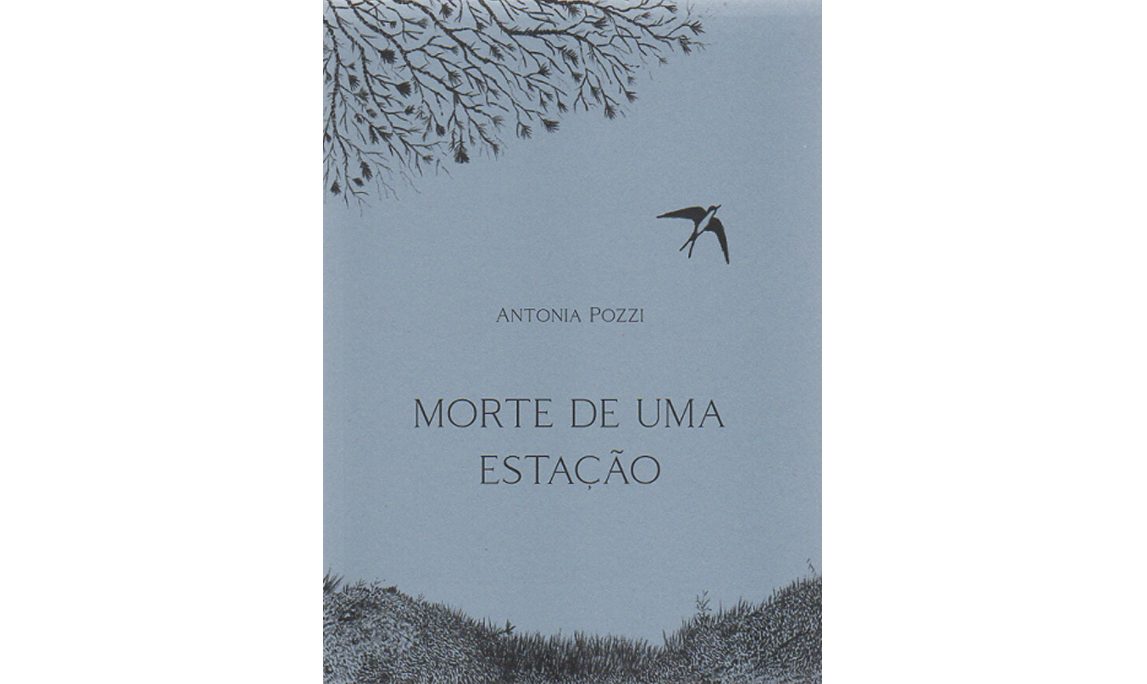
Desenhamos aspas no ar porque nos citamos mal e, nesse gesto infantil, assinalando as gafes e os atropelos, sem acertarmos no alvo, continuamos a existir, a ser e a estar, cada um no seu mistério, na sua noite, na solidão que vale a pena. O último verso do poema de Pozzi capta no brilho dos “estilhaços” a imagem que transcende a indigência das palavras. Espalha-se luz pela terra: esse encontro entre pares inesperados, a luz e o chão, não se dá sem alguma dor, sem alguma dose de violência. Mas a beleza disso – dos vidros que se partem, da fractura exposta, das coesões perdidas (“À minha volta estilhaça-se / o meu rosto em infinitos espelhos”, líamos no poema de Pina…) –, a beleza é, por vezes, chegar às palavras por acaso, ou desimpedir as vias para que as palavras cheguem até nós. E o poema acontece, acontece-nos, acontecemos. Mesmo quando o excesso de lucidez sidera e nos obriga a reconhecer que estamos sempre a mais no mundo só porque sabemos que estamos, que somos, que
São feitas de palavras as palavras
e da melancolia da
ausência da prosa e da ausência da poesia.
[…]
(in Todas as Palavras, 2013, p. 272).
4.
De novo, Antonia Pozzi: “Não ter um Deus / não ter um túmulo / não ter nada de certo” (p. 57). Assumir o despudor da fraqueza, da dúvida, da aflição sem nome: “este transcender ansioso / esta superação sem rumo / este perder-se / que não é ainda morrer” (p. 65). É nesta vacilação que o inferno se faz o lugar e o tempo que nos calhou viver – não como metáfora para tornar o real um pouco menos iníquo, moderando-lhe a temperatura, mas como caminho já a fazer-se, sem a vigilância de mitos todo-poderosos ou deuses magnânimos que substantivem o silêncio das preces, nem palavras de honra em nome das quais os corpos se entreguem às balas e nos inspirem modelos de vida para duas ou três eternidades. O inferno é esta pedagogia em curso com que nos vamos adaptando à clarividência dos cegos: a visão-outra que, como uma sonda, mergulha a pique na intransigência da mais negra luz, com a coragem de quem já não tem mais nada a perder, excepto a vontade indómita de ser livre. E a liberdade, quando não é esse estribilho pronto-a-assobiar em farsa política, nem o anelo romântico que a desvitaliza como mera abstracção de lapela, sabe-se consciência de um risco, de um salto em vertigem, a enigmática incerteza.
O inferno de hoje – ou hoje, sem mais, essa condensação adverbial extemporânea, essa explosão irrealizável de um presente em fuga no qual sou menos que a soma dos meus estilhaços –, o inferno, dizia, será essencialmente a implosão de todas as incertezas, o interdito de duvidar se o relógio bate certo com a nossa intuição das horas. Uma vida demasiado segura, eis o inferno às claras.
Malgrado os mapas, as cartas astrais,
as sondas imponderáveis
vertidas nas veias,
e o satélite oracular
que aconselha
os nossos passos,
cursor na grelha das ruas,
seta da nossa
sombra,
malgrado o sinal,
já descontados os efeitos
da relatividade
num síncrono gps,
instantâneo tradutor
de mudos Pentecostes,
malgrado já nunca ser noite, se
os candeeiros cegam
numa prótese de sol,
malgrado a voz que nos indica o destino,
e na planilha desenha
o mais perfeito caminho,
legendas, lembranças, semelhanças,
desperdício da luz repartida
na longitude dos dias,
chega sempre um instante, nas nossas vidas,
em que todos
nos perdemos.
É este o poema que abre o livro Inferno, de Pedro Eiras (2020, pp. 7-8). O instante em que todos nos perdemos, se o recobre o travo acidulado de uma perda irresgatável, num tom elegíaco, não deixa de ser esse um instante em que a suposta negatividade da perda é banhada com um ténue fio de luz. Um clarão de epifania abre o fim do poema, mesmo que a revelação se dê sem clímax, aparentemente: a certeza de um equívoco – o desnorte, a deriva, o desequilíbrio da curva – é um nome sem prurido com que a esperança se pode ainda dizer sem que a vergonha nos core as faces.
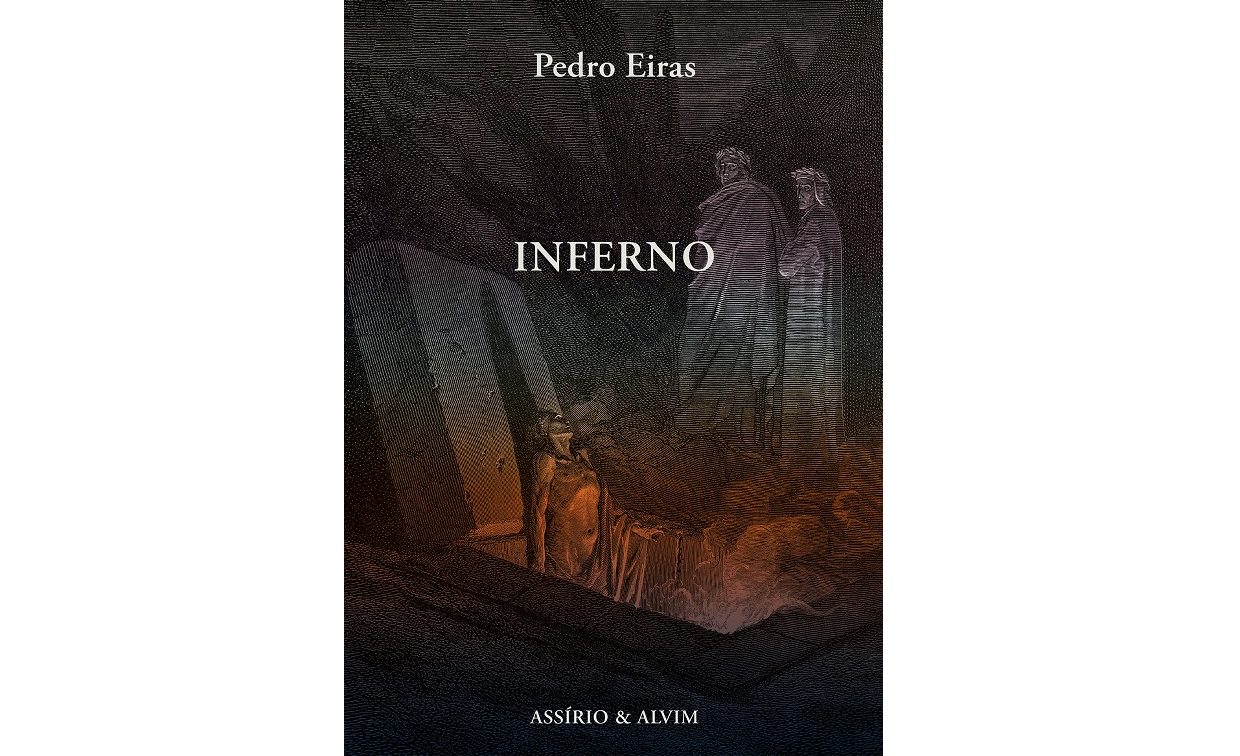
Em tempos de peste, de máscara posta numa biblioteca pública, acumulando calor, nervos e uma urgência desesperada em dar tudo por definitivo – ideias, livros, isto –, a escrita, que exige tempo, torna-se rival da paciência (e sem paciência, sem o tempo da espera, a democracia não sobrevive: nem a democracia, nem nada que se compare àquela “doçura de nada ter a dizer, o direito a não ter nada a dizer”, que Deleuze toma como “a condição de que se forme qualquer coisa de raro ou de rarefeito que mereça um pouco ser dito”…). Vai desfilando o inferno com o seu séquito de imagens frias, agressões, estatísticas, os canalhas do costume angariando os ódios que mais rendem nos mercados actuais. De resto, o novo normal já é suficientemente abstruso na sua inglória evidência, esteja ou não esteja o televisor em silêncio, para que nos detenhamos aqui com repugnado afinco no sentido dessas palavras: “o novo normal”.
Mas os mortos, esses, ainda morrem – e o pleonasmo terá aqui a virtude, talvez, de iluminar com rude simplicidade como morrer permanece esse elo tão mágico quanto real que nos une a todos os tempos, onde quer que um humano tenha desafiado o estrito limiar biológico. Não temos feito outra coisa senão morrer. Morremos e choramos os nossos mortos, morremos e pousamos flores, morremos para sermos a memória de alguém, a matéria indecisa de que se fazem as vozes sem origem, o pano branco dos fantasmas, a letra morta dos livros. Ainda morrem os mortos – e alguma coisa nisso, no luto, na dor, no impensável da morte a partir do próprio corpo, na circunstância de serem os mortos debicados pelo abutre da notícia, alguma coisa resta sem nome. Esse brevíssimo silêncio que, em nós, recebe a evidência de um morto, que o apreende por aquilo que ele é, esboço do que nos espera, a ausência que vai de nós até nós.
5.
Escrevo de máscara. Desde logo, esta deslocação: escrevo de máscara sobre o que têm sido as máscaras da escrita, a literatura e os seus avatares, a própria escrita enquanto véu que nos permite ser honestos na mentira, falsear a verdade em verdades, instrumentar encenações de nós mesmos. Mas a máscara posta, a consciência dela a aquecer-me a cara, num microclima de inferno que liberta suor e outros queixumes de ocidental privilegiado – esta máscara tão puta que mal me deixa pensar, ao mesmo tempo que relativiza estas e outras coisas literárias, “a mesa-redonda sobre / o desenvolvimento sustentado na literatura” (in Inferno, p. 73), também reacende em tudo isto uma vital desmesura.
De facto, só o impossível e o excessivo fazem do homo sapiens sapiens a resposta à Esfinge, só essa desmesura nos incita a travar batalhas infernais dentro de nós. Para que, mesmo sem deus a ancorar a vida nas suas misteriosas infusões de sentido, continuemos a articular verbos no futuro e a tecer desejos, para que continuemos a dizer amanhã ou talvez, ou a sonhar com o dia de Sol a seguir ao nosso próprio funeral, como dizia George Steiner.
Cruzando Sloterdijk com Cioran: somos o animal que se obriga a viver para suplantar o inconveniente de ter nascido. E nessa obrigação ressoa, século após século, como um vento imemorial, o imperativo do célebre verso de Rainer Maria Rilke no soneto dedicado ao torso de Apolo (c. 480-470 a.C.), esse fragmento escultórico que sobreviveu da Antiguidade e que o poeta austríaco observara no Museu do Louvre: “Tens de mudar de vida”.
Não conhecemos sua cabeça inaudita
Onde as pupilas amadureciam. Mas
Seu torso brilha ainda como um candelabro
No qual o seu olhar, sobre si mesmo voltado
Detém-se e brilha. Do contrário não poderia
Seu mamilo cegar-te e nem à leve curva
Dos rins poderia chegar um sorriso
Até àquele centro, donde o sexo pendia.
De outro modo erguer-se-ia esta pedra breve e mutilada
Sob a queda translúcida dos ombros.
E não tremeria assim, como pele selvagem.
E nem explodiria para além de todas as fronteiras
Tal como uma estrela. Pois nela não há lugar
Que não te mire: precisas mudar de vida.
(tradução de Paulo Quintela).
Precisas mudar de vida. Assim, vindo do nada, cai este verso no poema. Como um súbito enigma ao abrigo de qualquer refutação, a fechar um soneto tão duvidoso, tão impregnado de mistério. Um torso sem cabeça, um pedaço de pedra antiga, que irradia o inquietante poder de um olhar sobre nós, como se as coisas inertes nos espiassem num rumoroso mutismo – e, depois, aquele final, aquele “tens de mudar de vida” como a mais inesperada rasteira, o degrau em falso num lanço de escada. Para Sloterdijk, o verso de Rilke “[d]á a palavra-chave da revolução na segunda pessoa do singular. Define a vida como um descer das formas superiores para as formas inferiores. Sim, vivo, mas há algo que me diz com incontestável autoridade: Ainda não vives como deve ser” (Tens de Mudar de Vida, 2018, p. 40).
Por outro lado, prossegue o filósofo, a injunção rilkeana denota muito literalmente a aliança que unia humanos e deuses na estatuária grega: o homem que é esculpido é o que, em vida, ousa exceder os seus constrangimentos mortais em renhidas competições (os jogos olímpicos, as artes, a educação) para espicaçar a inveja divina, reclamando para si uma quota da imortalidade. “Um deus era sempre também uma espécie de desportista”, comenta Sloterdijk, “e o desportista – especialmente aquele que era celebrado no elogio e coroado de louros – sempre também uma espécie de deus”; daí ser “plausível […] que o autor do soneto tenha discernido no torso real que tinha à sua frente algo da força irradiante do vitalismo dos atletas antigos e da teologia muscular dos lutadores na palaestra” (idem, p. 41).
Curioso como, saindo à rua na cidade, me vem à cabeça esse torso de Apolo, ou imprecisas variações suas, inscritas nas caras com que me cruzo. De máscara, estamos mais próximos de devir coisas. Boca e nariz tapados, temos parte do rosto mineralizada; exposta, apenas a nossa parte de sentinelas, os olhos feitos sondas obsessivas que redobram esforços na compreensão do seu redor. Na superfície da máscara reverberam as marcas da ausência, qualquer coisa como os membros decepados das estátuas. A máscara subtrai-nos a margem plástica onde sempre se jogou, para o bem e o mal da nossa reconhecível humanidade, aquela química, as dúbias danças do desejo, a garantia que dávamos uns aos outros de tudo quanto, num rosto nu, valia mais do que mil palavras.
Cada qual na sua vida, mais ou menos esbaforido, mais ou menos diletante, vê-se na obrigação, não exclusivamente profiláctica, de mudar a sua vida. Esta vida, a de agora. Como se cada um destes indistintos transeuntes acabasse citando Rilke sem querer, sem aspas. Apenas pelo fragor de cada um existir e de se reconhecer existindo, resistindo a tudo isto. Mas será suficiente resistir?
Temos citações para tudo, mesmo que nunca tenhamos aberto um livro. Mas “ninguém escreveu livros / para te facilitar a vida” (in Inferno, p. 91). Talvez se nos calássemos todos.
6.
Anda-se aqui aos círculos, infernalmente. Mas anda-se:
«Tens de mudar a tua vida», diz um poeta que leste,
mas para isso precisas, primeiro,
de ter uma vida,
não esta fiada de sonos mal dormidos,
uma lâmpada acesa
ateando a noite
resoluta.
Uma estância,
quase prece:
se
eu não morresse
nunca.
(Pedro Eiras, Inferno, 2020, p. 96).
Este Inferno tão dois-mil-e-vinte-mente contemporâneo reacende fogos mais antigos, as luzes coadas nos candeeiros de uma Lisboa-fantasma, um morto-vivo nacional. A noite, quando chega, vem pelo lado de dentro, acende-se-nos nas lágrimas. Cesário Verde continua ocidental no sentimento, o sol continua a pôr-se deste lado do hemisfério. Continuamos, por assim dizer, poentes, ainda em queda, enlevados pela quimera azul de transmigrar. E a circunstância de, num mesmo poema, Pedro Eiras aproximar a citação de Rilke – “Tens de mudar a tua vida” – de um verso roubado a Cesário – “se / eu não morresse / nunca” – dá corpo a esse poder transmigratório dos poemas e das palavras, como pequenas cápsulas do tempo que nos conduzem a todas essas vidas que já fomos e às que vamos amanhando no presente, o nosso corpo como o de um possesso.
Sim, já sabemos. Há muito que os tempos são de indigência, os poetas continuam nisto depois de Auschwitz, a impossibilidade de escrever continua a extraviar-se no correio de Lorde Chandos. E aquela exortação de Rilke, máxima de libertação face às agruras e contingências do real (ou “esta fiada de sonos mal dormidos”), está já contida na citação de Cesário, truncada no poema de Eiras (qual dorso de Apolo, sem cabeça nem membros): “Se eu não morresse, nunca! E eternamente / Buscasse e conseguisse a perfeição das cousas!” (de “O Sentimento dum Ocidental”). Os Queen, inclusive, puseram arenas em uníssono com um refrão semelhante: “Who wants to live forever?… / Who wants to live forever?…”
Assim se desdobra, segundo Blanchot, o maior privilégio da literatura: porque ela “excede o lugar e o momento actuais para se situar na periferia do mundo e como que no fim dos tempos, e é daí que fala das coisas e que se ocupa dos homens” (in A Literatura e o Direito à Morte, 2020, pp. 78-9). Opta-se pela margem quando o centro é o lugar onde opressivamente coincidimos em demasia com o que somos, ou com quem achamos que nos acolhe por lhe devolvermos uma imagem pouco traída de nós. Se isto soa a mantra do pós-modernismo, a destinerrâncias e identidades nómadas, pois bem: queira-se libertar a margem do peso exangue das teorias, se por elas teimamos em chegar sempre ao mesmo destino, ou a paragens reconhecíveis, com medo de decepcionar quem nos calça os pés. A angústia pode ser o mais desesperante dos lugares. O niilismo, sendo libertador, torna-nos reféns de um infinito que, por sê-lo, agudiza o absurdo da nossa elementar finitude.
Mas a angústia é também, e apenas, um nome. O niilismo, idem. E sabê-los temporários, como é temporário o uso que fazemos deles, não só nos permite pousar a cabeça em sítios insuspeitos, ainda que por instantes, como nos possibilita não saber o que está por vir. E não saber dá-nos folga para adivinhar, criar suposições, imaginar: “se perdeste / a esperança”, afiança Pedro Eiras, “faz de conta: acredita” (in Inferno, p. 13).
Não se nasce pós-moderno, assim sem mais, como um destino traçado para que não tenhamos sequer direito a um destino – ou o direito a não estarmos destinados ao que quer que seja, nem a nós mesmos, metidos ao barulho na crise das referências. Pós-modernamente, a condição humana é a também ausência dessa condição, o desconforto de estarmos confinados a abstracções tão rebatidas quanto lassas. Agora que somos todos googláveis (roubo a imagem a Pedro Eiras), a maior surpresa é permanecermos anónimos em todos os motores de busca: sermos um espaço em branco, um lugar vazio, um nada não sonhado que azucrina o algoritmo. A fórmula ultimamente desesperada (desesperada e apaixonada) com que reclamamos o direito a sermos esquecidos, um pouco mais irredutíveis, um pouco menos inexpressivos na triste neutralidade que a máscara empresta às nossas caras. Também não estamos assim tão carentes de heróis que nos ponham um freio na inconstância das formas. O que mais há por aí são estátuas à espera do derrube pelas histórias que ficaram por contar – e histórias que só agora começaram a conhecer os seus protagonistas, que escutam agora, por sua vez, o eco da própria voz na boca de quem protesta na rua.
Vendida a alma ao diabo, entretém-se deus com o nosso corpo online. O fim do mundo está gasto, e a grande explosão ganhou letra de forma neste lacre digital: like. “Mas”, pondera Pedro Eiras, enquanto nos dá a mão por entre os escombros deste lixo limpo, “não será melhor (como quem perdeu a aura no trânsito, ou comeu o livro e lhe foi doce nos lábios) tentar ver o copo meio-cheio – admitir, mesmo nesta escassa prosa, a esperança ambivalente, quem sabe o quê perdido no fundo da floresta?” (p. 10).
Num ano que finda com a morte de Eduardo Lourenço, aquele “não será melhor” deste último poema de Eiras abre-se, de súbito, não apenas como um gesto de honra pelos livros, a afabilidade e o pensamento dançante do autor de Heterodoxias, mas também como gesto de revolta contra um ano em que a força do real, na forma de um vírus, se abateu sobre nós, neutralizando qualquer propensão imaginante, esmagando-nos com o puro nada que é assistir, todos os dias, à contagem dos mortos. Sem nome, sem rosto – só mortos. O mesmo Eduardo Lourenço, tomando-nos como hóspedes do instante, consagrou a escrita, a leitura e a reflexão como fenómenos irmanados num mesmo júbilo: a disposição para a alegria, o espanto de estar vivo. “A coisa mais extraordinária é a surpresa contínua que existe no mundo”, disse numa entrevista. “Cada geração… Temos a ideia de que há fases, uma progressão e um sentido nessa progressão. Não. O mundo começa com cada um de nós. Estamos na hora zero do mundo” (revista Ler, 2015, p. 41).

Estamos na hora zero do mundo. Mesmo nesta escassa prosa, a esperança ambivalente. Sem plano previamente gizado, sem deliberações maturadas, sem argumentação crítica meticulosamente montada para enfrentar as feras: alguma coisa acontece. O big bang dos pequenos e grandes erros fecundos, os acidentes que se dão enquanto deus se distrai dos altares onde o põem, tombando as vertigens sobre nós. Para tudo isto – o que somos, de onde vimos, para onde vamos, as interrogações latentes em tudo quanto devém literatura, ruína, grãos de pó nos museus –, para tudo isto convém nunca dar por fechada a certeza de uma resposta, mas sem renunciar à exigência de claridade. Sábio é o que não se contenta com este espectáculo do mundo, sobretudo no ano da morte de muitas mortes, mas não é menos sábio o que sorri, com a amenidade discreta de um Buda, de olhos fechados mas imersivos na profundidade das coisas, diante deste mesmo prodigioso espectáculo. O de tomar as incertezas, não pelo lado do terror paralisante, mas pelo lado da acção inspirada a cada hora que passa. Fazendo acontecer a história, não como instância apoteótica do progresso e da razão iluminista, mas como a história da imanência real, vivida à flor da pele, que se desdobra no florir de cada gesto, de cada lance, de cada falha cometida na peripécia de se existir no e com o mundo, no tempo em aberto, na revolução em curso. Essa história que, com ou sem maiúscula, e sem as nostalgias cegas do passado, nem os auspícios dengosos do futuro, é feita no presente – o presente que “[se] come quente como os ovos estrelados”, segundo Eduardo Lourenço (in O Canto do Signo, p. 408). O presente que é o da “alegria no coração cravada / como uma faca no pão”, num poema de Antonia Pozzi. E dos ovos ao pão, que acabe de vez a fome no mundo para que a fome de mundo comece a ser substancialmente mais que literatura, esse desejo, segundo Kafka, de falhar com verdade.
Referências
AA.VV., Primeiro Livro de Poesia, 4.ª ed., seleção de Sophia de Mello Breyner Andresen e ilustrações de Júlio Resende, Caminho, 1996.
Maurice Blanchot, A Literatura e o Direito à Morte, tradução de Sara Soares Belo, imagens de Ana João Romana, Sr. Teste, 2020.
Gilles Deleuze, Conversações, tradução de Miguel Serras Pereira, Lisboa, Fim de Século, 2003.
Pedro Eiras, Inferno, Lisboa, Assírio & Alvim, 2020.
Eduardo Lourenço, “Uma parte da Humanidade já encara a morte como o fim de tudo”, entrevista de Paulo Moura, fotografia de Pedro Loureiro, Ler, n.º 138, Verão 2015, pp. 30-41.
Eduardo Lourenço, O Canto do Signo. Existência e Literatura (1957-1993), Lisboa, Gradiva, 2017.
Manuel António Pina, Todas as Palavras. Poesia Reunida, Lisboa, Assírio & Alvim, 2013.
Manuel António Pina, Dito em Voz Alta – entrevistas sobre literatura, isto é, sobre tudo, organização de Sousa Dias, Lisboa, Documenta, 2016.
Antonia Pozzi, Morte de Uma Estação, selecção e tradução de Inês Dias, desenhos de Débora Figueiredo, prefácio de José Carlos Soares, Lisboa, Averno, 2019.
Peter Sloterdijk, Tens de Mudar de Vida. Sobre Antropotécnica, tradução de Carlos Leite, Lisboa, Relógio D’Água, 2018.
Imagens
Manuel António Pina: https://ilcml.com/manuel-antonio-pina-entrevistado-por-luis-miguel-queiros-2011-2/
Eduardo Lourenço: https://expresso.pt/cultura/2020-12-01-Morreu-Eduardo-Lourenco
Fotografia de destaque: Diogo Martins
**
VILA NOVA, o seu diário digital
Se chegou até aqui é porque provavelmente aprecia o trabalho que estamos a desenvolver.
A Vila Nova é cidadania e serviço público.
Diário digital generalista de âmbito regional, a Vila Nova é gratuita para os leitores e sempre será.
No entanto, a Vila Nova tem custos, entre os quais a manutenção e renovação de equipamento, despesas de representação, transportes e telecomunicações, alojamento de páginas na rede, taxas específicas da atividade.
Para lá disso, a Vila Nova pretende produzir e distribuir cada vez mais e melhor informação, com independência e com a diversidade de opiniões própria de uma sociedade aberta.
Como contribuir e apoiar a VILA NOVA?
Se considera válido o trabalho realizado, não deixe de efetuar o seu simbólico contributo sob a forma de donativo através de netbanking ou multibanco (preferencial), mbway ou paypal.
NiB: 0065 0922 00017890002 91
IBAN: PT 50 0065 0922 00017890002 91
BIC/SWIFT: BESZ PT PL
MBWay: 919983484
Obs: envie-nos os deus dados e na volta do correio receberá o respetivo recibo para efeitos fiscais ou outros.
Gratos pela sua colaboração.
*


