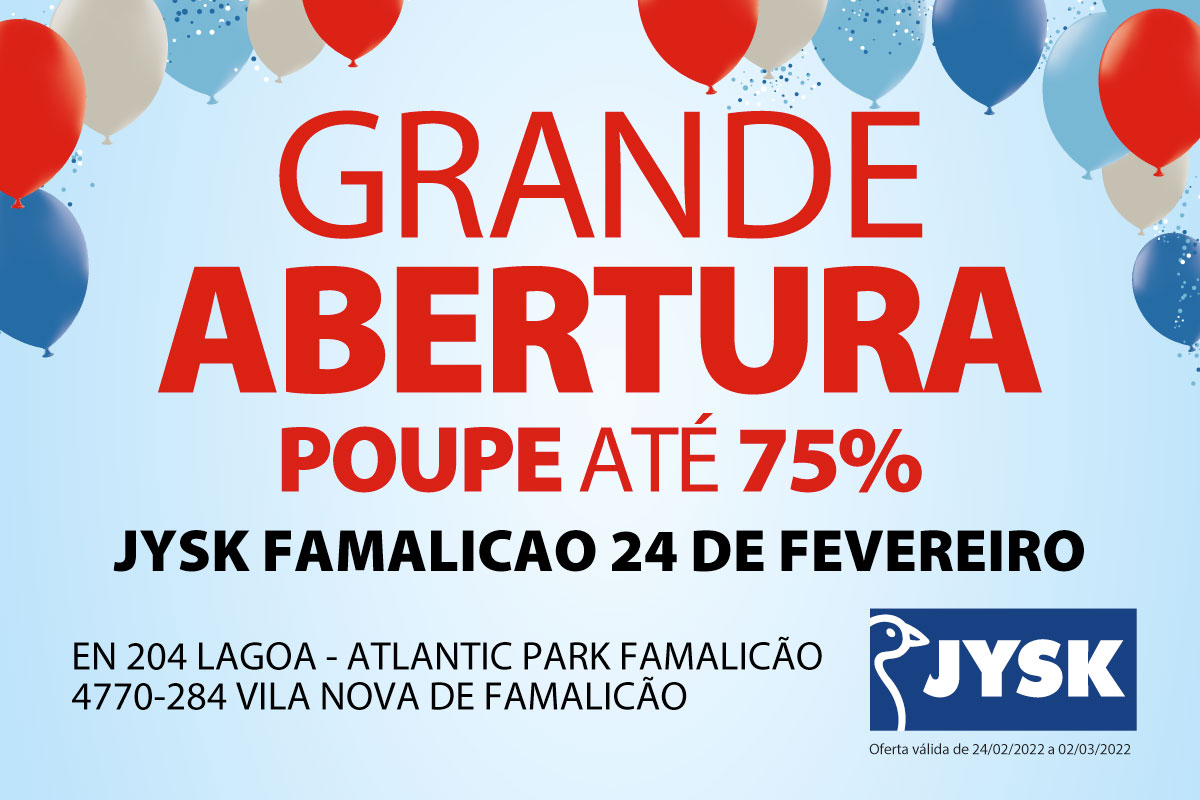“Todas as tendências egoístas que há nos homens, o culto de si próprios e o desprezo pelos outros, têm origem na organização atual das relações entre os homens e as mulheres.”
Esta frase foi dita no século XIX, não por uma mulher, mas sim por um homem, chamado John Stuart Mill, filósofo e economista britânico. Em 1867, ele tinha proferido um discurso no Parlamento britânico em defesa da igualdade de direitos entre mulheres e homens e, um pouco mais tarde, em 1869, publicou o livro “A Sujeição das Mulheres”.
Ao longo dos séculos XIX e XX, os movimentos igualitários assumiram-se, quer na Europa e na América, como forças de pressão e de mobilização, visando a assunção igualitária de direitos e deveres da pessoa humana sem distinção de sexo.
Borges de Barros, um dos primeiros defensores do direito de voto para as mulheres
Menos conhecida dos anais da Historia foi a defesa do reconhecimento do direito de voto às mulheres por parte do deputado Domingos Borges de Barros, eleito pela província brasileira da Baia, no âmbito das Cortes Constituintes do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o primeiro parlamento pluricontinental da História da humanidade, na medida em que era constituído por deputados do Portugal europeu (incluindo os Açores e a Madeira), do Brasil e dos territórios ultramarinos portugueses de Africa e da Asia.
Na sessão parlamentar efetuada em Lisboa, em 22 de abril de 1822, Borges de Barros considerou que as mulheres não tinham caraterística nenhuma que a impedissem de assumir a responsabilidade do direito de voto.
Primeiro Código Civil português manteve espírito conservador
Durante a Monarquia Constitucional, à semelhança das épocas anteriores da História, as mulheres portuguesas viveram numa condição de desigualdade jurídica face aos homens, bem como de desigualdade de estatuto no seio da família e da sociedade, mas igualmente em termos de direitos civis, políticos e sociais.
O primeiro Código Civil, datado de 1867, que surgiu da necessidade de sistematizar e modernizar a legislação civil portuguesa, manteve-se fiel ao espírito conservador da sociedade portuguesa de então na sua visão sobre a mulher, designadamente o seu papel social, familiar e conjugal.
Carolina Beatriz Ângelo, a primeira eleitora portuguesa
O primeiro país a reconhecer o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893, o que teve repercussões amplas a nível internacional, incluindo em Portugal.
Em Portugal, a questão do direito de voto para as mulheres foi abordada no Parlamento da Monarquia Constitucional.
A organização da luta contra a Monarquia, no final do século XIX e no início do século XX, levou o Partido Republicano Português a reunir o maior número possível de ativistas, incluindo mulheres, que passaram a reivindicar a emancipação feminina, incluído o reconhecimento do direito de voto.
Na sequência da revolução de 5 de outubro de 1910, que instaurou a República em Portugal, foi aprovado um conjunto de leis que reformou o quadro institucional da família, consagrando o divórcio, o casamento civil como único válido, a proteção aos filhos ilegítimos e a melhoria das relações jurídicas entre os cônjuges no sentido tendencialmente igualitário.
Entretanto, foram convocadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que tiveram lugar em 28 de maio de 1911.
De acordo com a legislação eleitoral vigente, eram considerados eleitores os cidadãos portugueses maiores de 21 anos, residentes em território nacional e que soubessem ler e escrever ou fossem chefes de família. Como não era referido explicitamente o sexo, Carolina Beatriz Ângelo, médica, ativista republicana e viúva, e por isso, chefe de família, foi uma das pessoas que votou, após uma batalha administrativa e judicial.
Da Constituição Republicana de 1911 à Ditadura Militar
A Constituição de 1911, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte concedeu às mulheres o direito a integrar a função pública, a escolaridade obrigatória e a igualdade de tratamento tanto no casamento como no divórcio, mas era omissa quanto aos direitos políticos das mulheres, nomeadamente ao direito de voto.
Nas eleições legislativas de 1913, as mulheres já não puderam votar, pois tinha sido aprovada legislação, que estipulava que apenas os homens que soubessem ler e escrever o podiam fazer.
Em 28 de maio de 1926, um golpe de estado militar terminou com a 1.ª República e instaurou a Ditadura Militar (1926-1933), o regime que abriu caminho para a implantação da 2.ª República ou Estado Novo (1933-1974),
Em 1931, a Ditadura Militar (1926-1933), o regime que abriu caminho para a implantação da 2.ª República ou Estado Novo (1933-1974), aprovou legislação eleitoral que reconheceu o direito de voto às mulheres, embora com limitações. Só eram eleitoras as mulheres que tivessem frequentado o ensino superior ou as chamadas “chefes de família”, um termo que englobava mulheres portuguesas, viúvas, divorciadas ou judicialmente separadas de pessoas e bens com família própria e as casas cujos maridos estejam ausentes nos territórios ultramarinos ou no estrangeiro.
Entretanto, António de Oliveira Salazar foi nomeado chefe do Governo, assumindo um papel político cada vez mais hegemónico.
O Estado Novo e a diferenciação da situação das mulheres
Em 1933, ano da entrada em vigor da Constituição do Estado Novo, a legislação incluía o direito de voto à mulher solteira, maior ou emancipada, quando de reconhecida idoneidade moral, que viva inteiramente sobre si e tenha a seu cargo ascendentes, descendentes ou colaterais. Nesse mesmo ano, foi dada a oportunidade às mulheres de se candidatarem à Assembleia Nacional, tendo sido, em 1934, três mulheres eleitas como deputadas: Maria Guardiola, Domitília de Carvalho e Cândida Pereira.
No que diz respeito ao regime do Estado Novo, durante grande parte da sua vigência não se procedeu a alterações substanciais ao Código Civil de 1867, já que, estava em sintonia com uma visão conservadora do papel da mulher. Por exemplo, manteve-se, a norma de que o homem era o chefe de família, considerando que a esposa e os filhos lhe deviam obediência.
Durante a implantação do Estado Novo, os direitos das mulheres teve retrocessos por outras vias. A Constituição de 1933 consagrava a igualdade dos cidadãos perante a lei, recusando qualquer tipo de privilégio de nascimento, nobreza, título nobiliárquico, sexo, ou condição social, para, logo de seguida, enunciar a exceção, quanto à mulher, as diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família.
A prática legislativa, política e administrativa do Estado Novo baseava-se na conceção das mulheres como seres essencialmente vocacionados para a maternidade e o espaço doméstico. A possibilidade das mulheres trabalharem fora de casa estava claramente limitada e a desigualdade salarial em relação aos homens era considerável. Além disso, foram impostas diversas restrições. Por exemplo, as professoras do ensino primário tinham de pedir autorização ao Ministério da Educação para se casarem, enquanto as enfermeiras eram impedidas de contrair matrimónio.
Após a Concordata, a situação da mulher andou longe da teoria do Estado Novo
Em 1940, foi celebrada a concordata entre Portugal e a Santa Sé, que procurou normalizar as relações entre o Estado e a Igreja Católica Romana após o conflito ocorrido na 1.ª República.
A Concordata impedia a dissolução dos casamentos católicos pelos tribunais civis, o que foi um aspeto controverso, incluindo em setores ligados ao Estado Novo.
Contudo, a realidade andou longe da teoria, sobretudo da aspiração estatal de reenviar a mulher para o lar. Na indústria, onde a presença feminina foi sempre maioritária em setores como os têxteis, o vestuário e o tabaco, a percentagem da população feminina aumentou de forma imparável, a partir da década de 1950.
A década de 1960 foi aquela em que aumentou significativamente o acesso das mulheres ao trabalho, em muitos casos, para substituir a mão-de-obra masculina, que se ausentou para o estrangeiro e para a guerra colonial nos territórios africanos (1961-1974).
Novo Código Civil de 1967 e governação de Marcello Caetano reconhecem alguns direitos às mulheres
Em 1967, entrou em vigor o novo Código Civil, que introduziu algumas modificações positivas limitadas, mas não apresentava grandes mudanças em matéria dos direitos das mulheres.
O tema dos direitos das mulheres assumiu uma repercussão crescente na sociedade portuguesa. Os setores adversários do regime defendiam o reconhecimento da igualdade de direitos entre mulheres e homens. Dentro do setores apoiantes do regime, as opiniões dividiam-se entre a ala mais conservadora, que enfatizava o imobilismo ideológico como a defesa por excelência do regime, incluindo a justificação da conceção tradicional do papel da mulher, e os setores que defendiam reformas de cariz liberalizador, incluindo no âmbito do reconhecimento da dignidade e dos direitos das mulheres.
Com a ascensão de Marcello Caetano à liderança do Governo, em 1968, coincidindo com uma fase liberalizante do Estado Novo, o número de votantes foi alargado a todos aqueles que soubessem ler e escrever, fossem homens e mulheres.
No ano seguinte, a mulher casada passou a poder atravessar as fronteiras sem licença do marido e foi adotada, embora sem grande aplicação concreta, a norma legal “para trabalho igual, salário igual”. No âmbito da revisão constitucional de 1971, o artigo da Constituição que continha a expressão “salvas, quanto à mulher, as diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família” foi modificado, caindo a expressão “bem da família”.
Marcello Caetano também era favorável à legalização do divórcio para os casados catolicamente. Contudo, recuou, devido à postura inflexível dos setores católicos mais tradicionalistas.
25 de Abril e Constituição de 1976 consagram igualdade de direitos entre homens e mulheres em Portugal
Na sequência da revolução de 25 de abril de 1974, que abriu caminho para a implantação da 3.ª República e a democratização de Portugal, era de prever que fosse alterada a situação legal de subordinação da mulher.
Logo em 1974, foi aprovada legislação que permitia o acesso das mulheres aos cargos políticos e dirigentes das Autarquias Locais, à carreira diplomática e à magistratura judicial e do Ministério Público.
Foi promovida legislação eleitoral que reconheceu como eleitores os cidadãos portugueses de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que se aplicou as eleições para a Assembleia Constituinte, que se realizaram em 25 de abril de 1975.
Em 1975, foi negociada a revisão da Concordata com a Santa Sé, no que diz respeito à questão do divórcio, e a consequente alteração de diversos artigos do Código Civil relativos ao divórcio. Passou a ser permitido a dissolução dos casamentos católicos pelos tribunais civis, nos mesmos termos e fundamentos que nos casos dos casamentos civis.
No dia 2 de Abril de 1976, a Assembleia Constituinte aprovou a nova Constituição da República Portuguesa, que estipulava que o sufrágio é universal, igual e secreto e reconhecido a todos os cidadãos maiores de 18 anos e o seu exercício foi reconhecido como um dever cívico.
Além disso, a Constituição de 1976 consagrava como um dos princípios constitucionais fundamentais a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, sem quaisquer tipo de exceções no que se refere ao sexo, reconhecendo-as mulheres como cidadãs de pleno direito.
A nova Constituição consagrava ainda a igualdade na possibilidade de escolha de profissão, de acesso ao trabalho, e de remuneração salarial, sem discriminação de género e a igualdade de direitos e deveres de ambos os progenitores no que se refere à manutenção e educação dos filhos.
Foi ainda suprimido, em 1976, o direito do marido abrir a correspondência da mulher.
Revisão do Código Civil de 1978 alarga reconhecimento de igualdades entre os géneros
Mais tarde, em 1978, foi reconhecida legalmente a faculdade de cada um dos cônjuges pôde exercer qualquer profissão ou atividade sem o consentimento do outro e aprovada a revisão do Código Civil, no âmbito da qual foram aprovadas medidas da maior relevância: a mulher casada deixou de ter estatuto de dependência do marido; o desaparecimento da figura do chefe de família, bem como as disposições que atribuíam aos homens a administração dos bens do casal; a residência do casal passou a ser decisão de ambos os cônjuges (e não apenas do homem); a faculdade de ambos os cônjuges puderem acrescentar ao seu nome, no momento do casamento, até dois apelidos do outro; a reformulação do poder paternal, na qual a mulher deixou de deter apenas uma posição secundária de mera conselheira para deter poder de decisão pleno em igualdade de circunstâncias com o marido.
Desde essa altura, têm sido feitos progressos consideráveis na igualdade entre mulheres e homens, que colocam Portugal entre os países do mundo com uma maior participação das mulheres nas mais diversas esferas da sociedade.
Imagem: Pixabay
1ª Página. Clique aqui e veja tudo o que temos para lhe oferecer.
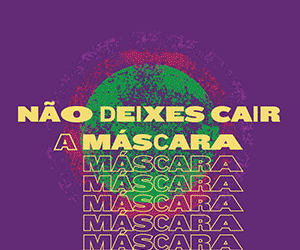
Imagens:
VILA NOVA, o seu diário digital. Conte connosco, nós contamos consigo.
Se chegou até aqui é porque provavelmente aprecia o trabalho que estamos a desenvolver.
A VILA NOVA é cidadania e serviço público.
Diário digital generalista de âmbito regional, a VILA NOVA é gratuita para os leitores e sempre será.
No entanto, a VILA NOVA tem custos, entre os quais a manutenção e renovação de equipamento, despesas de representação, transportes e telecomunicações, alojamento de páginas na rede, taxas específicas da atividade, entre outros.
Para lá disso, a VILA NOVA pretende produzir e distribuir cada vez mais e melhor informação, com independência e com a diversidade de opiniões própria de uma sociedade aberta. A melhor forma de o fazermos é dispormos de independência financeira.
Como contribuir e apoiar a VILA NOVA?
Se considera válido o trabalho realizado, não deixe de efetuar o seu simbólico contributo sob a forma de donativo através de mbway, netbanking, multibanco ou paypal.
MBWay: 919983484
NiB: 0065 0922 00017890002 91
IBAN: PT 50 0065 0922 00017890002 91
BIC/SWIFT: BESZ PT PL
Paypal: pedrocosta@vilanovaonline.pt
Envie-nos os seus dados e na volta do correio receberá o respetivo recibo para efeitos fiscais ou outros.
Visite também os nossos anunciantes.
Gratos pela sua colaboração.
Famalicão ‘InterAGE!’ com famílias de crianças e jovens portadores de necessidades especiais