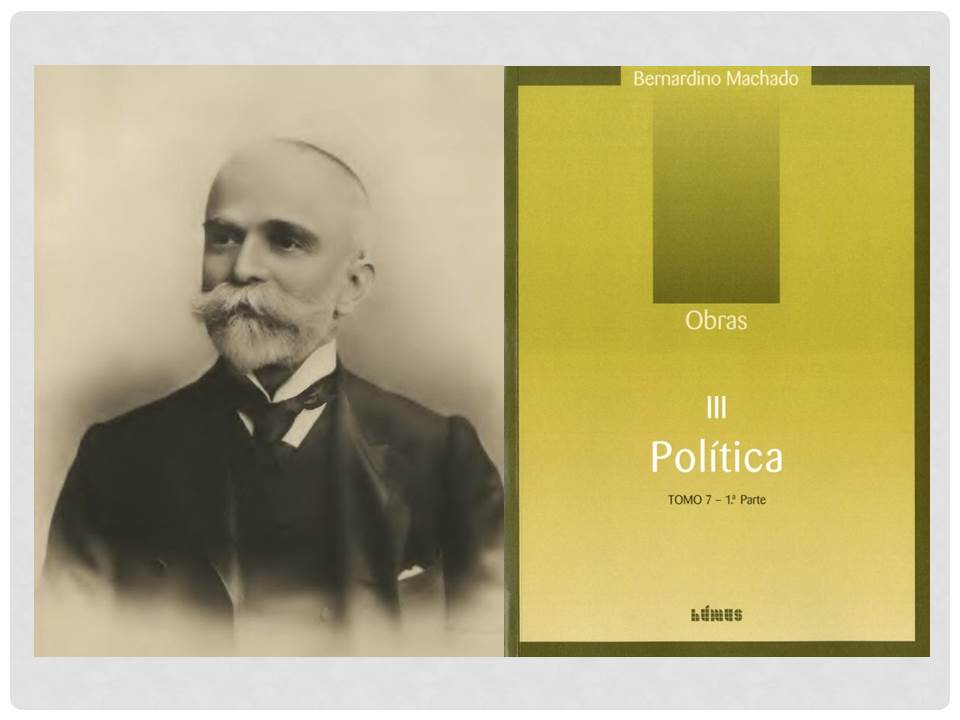Os textos que compõem este livro foram devidamente enquadrados em rigorosas notas de rodapé pelo Professor Norberto Cunha. Não se justificam, pois, grandes comentários a esses textos. A meu ver, será mais indicado aproveitar esta circunstância para fazer uma breve evocação do período em causa, um dos mais desassossegados e mais trágicos de um regime que, como se sabe, viveu permanentemente no fio da navalha. Revisitemos, pois, em traços largos, o ano de 1921, que iniciava a 2.ª década (incompleta) da I República Portuguesa.
Após a demissão do governo de Liberato Pinto (30/11/1920-2/3/1921), Bernardino Machado foi incumbido de formar ministério a 25 de Fevereiro. A 2 de Março apresentava ao Presidente da República, António José de Almeida, um executivo que contava com quatro democráticos, três reconstituintes, dois populares e um democrático dissidente.
Quando o governo se apresentou à Câmara dos Deputados, Bernardino Machado não se inibiu de denunciar a causa da desorientação por que o país passava, ao afirmar:
“O nosso grande mal tem sido a instabilidade governativa. Por mais que se inicie, nada se continua e conclui, nada vinga. Estamos há dois anos com a maior parte das questões vitais suspensas, sem solução”.
Optimista por natureza, Bernardino Machado resumia o seu programa a uma simples palavra: “Governaremos”. A crise, dizia, procedera da guerra, e o país tivera de travá-la “contra a dupla ditadura, interna e externa”. Daí que, apesar de reconhecer que o país se encontrasse “em enormes embaraços financeiros e económicos”, considerava que essas dificuldades, “tão assoberbantes”, eram “transitórias”. Para promover a restauração económica e financeira tinha uma solução: solidarizar o governo “com todas as forças vivas das classes trabalhadoras, que [eram] também forças políticas”. O nivelamento das receitas e despesas do Estado impunha-se, é certo, mas isso era “uma questão de tempo” e o governo, naturalmente, não perderia “nunca ocasião alguma de o ir efectivando”.
Tempo era, pois, a palavra-chave. Mas desde logo se viu, pela reacção das bancadas parlamentares, que tempo era justamente o que iria faltar ao seu governo, tal como faltara a outros que o antecederam.
Apesar das manifestações de simpatia, mais protocolares que genuínas, ninguém ignorava que o governo fora constituído sob uma fórmula que desagradava ao Partido Republicano Português (PRP), partido que, sem sofismas, não escondia a sua preferência por executivos monocolores. Bernardino Machado, pelo contrário, era um adepto confesso de governos de concentração. Daí ter lamentado, logo no início da sua declaração ministerial, não ter podido contar também com a presença dos liberais.
Ora, se os executivos homogéneos não tinham vida longa, estranho seria que este, pese embora toda a argúcia e experiência política do seu presidente, conseguisse ultrapassar uma situação que era recorrente no regime. E para que dúvidas não houvesse, pouco tardou a que o ministro das Finanças (António Maria da Silva) se imiscuísse em assuntos que diziam respeito ao seu colega da Agricultura (Portugal Durão), que evidentemente se demitiu. A homogeneidade governativa republicana continuava, pois, a ser uma miragem.
Por esta altura o governo estava já “debaixo de fogo”, no Parlamento e na imprensa, na sequência de um despacho que afastava Liberato Pinto de chefe de Estado-Maior da GNR. A atitude corporativista de alguns oficiais dessa força acabaria por dar origem ao movimento revolucionário de 21 de Maio, sob o pretexto de que Bernardino Machado, conluiado com Álvaro de Castro, ministro da Guerra, estaria a preparar um golpe de Estado para substituir António José de Almeida na Presidência da República e entregar o poder aos reconstituintes. Para evitar males maiores, logo nesse dia o Presidente da República convidou Barros Queiroz a formar governo, o que conseguiu, tomando posse no dia 23, após promessa presidencial de que o Parlamento seria dissolvido e se realizariam novas eleições.
O desfecho da crise política teve o apoio do PRP. Para António Maria da Silva, então o elemento mais destacado do seu Directório, era uma oportunidade única para neutralizar alguns sectores internos que escapavam ao seu controle, influenciar a composição das listas e, naturalmente, do futuro grupo parlamentar democrático.
As eleições de 10 de Julho não trouxeram a tão esperada estabilidade política ao país. Não foram um “desastre”, dizia o Diário de Lisboa, mas redundaram “num daqueles triunfos em que o louro é substituído pelas urtigas”. A vitória dos liberais foi, de facto, curta para sustentar uma alternativa eficaz e duradoura ao PRP.
Para Bernardino Machado, dessas eleições, feitas “sem programas, sem propaganda de ideias”, resultaram duas crises: a governativa e a da direcção do PRP. Este partido, dizia, não governava nem queria governar; o executivo organizado pelo Partido Liberal, por si só, sem outros apoios, também não governaria. Daí que, em vez de dois partidos de governo, como muitos pretendiam, o país tivesse ficado sem nenhum, já que “a consciência republicana” repelia “essa ditadura a duo”. A situação ficava, pois, pior e mais confusa do que a anterior a 21 de Maio: o Parlamento apresentava-se mais dividido e menos republicano, mais virado à direita, mercê da entrada de deputados monárquicos, dezembristas e católicos. Diga-se, a título de curiosidade, que um desses deputados, eleito pelo círculo de Guimarães, nas listas do Centro Católico Português, dava pelo nome de António de Oliveira Salazar.
As eleições deixaram feridas difíceis de cicatrizar. Fora do Parlamento, como dizia o Diário de Lisboa, ficaram “alguns grupos e agremiações, cujo sussurro e clamores enchiam o país de poeira e tumulto”. Nem todos, porém, se conformavam com o veredicto das urnas. Machado Santos, por exemplo, não teve pejo em confessar que, tendo sido afastado pelo eleitorado, procuraria aproximar-se do Parlamento “pela violência”. Significava isto, dizia ainda o Diário de Lisboa, que Machado Santos continuava “a fazer a República” até que esta se tornasse “à medida dos seus desejos”.
As iniciativas do governo, a exemplo do que tantas vezes acontecera com outros, acabaram por se perder sistematicamente nos emaranhados da retórica parlamentar. Mas nem só do Parlamento se podia queixar o chefe do executivo, Barros Queiroz, já que, ainda antes da discussão de algumas dessas medidas, já o ministro do Comércio (António Granjo) apresentara a demissão. Embora juntos no Partido Liberal, unionistas e evolucionistas, tal como a água e o azeite, teimavam em não formar um elemento comum: a dividi-los havia uma espécie de pecado original, isto é, o governo da União Sagrada e a participação de Portugal na Grande Guerra, que os deixara, anos antes, em campos opostos.
A imprensa democrática não perdeu tempo em proclamar o estrondoso fracasso do governo, que atribuía à inépcia governativa do seu presidente. Barros Queiroz acabaria por se demitir, pretextando a impossibilidade de resolver a questão cambial, que se agravara significativamente com o escândalo do fictício contrato externo de 50 milhões de dólares.
Em carta enviada a António José de Almeida, Barros Queiroz dava conta do seu estado de alma, dizendo:
“Julguei que o meu passado me dava o direito ao respeito dos meus concidadãos. Não sucedeu assim: enxovalhos, faltas de consideração, insultos, grosserias e calúnias castigaram a minha tentativa de prestar um serviço ao país. Já contava com a intriga, com as dificuldades de toda a ordem, mas, confesso a minha ingenuidade, contava também com um ambiente de respeito pela minha sinceridade.
Em Portugal, no campo político, não se discutem ideias com ideias; discutem-se os homens para os demolir, como se dessa demolição não adviesse para o regime e para o país um grande mal”.
A carta acabou por chegar à imprensa. Era uma carta “infeliz”, dizia o diário O Mundo. Significava que Barros Queiroz falira “como estadista”, tal como o Partido Liberal parecia “ter falido como organização política”. Não era esse, porém, o entendimento do Presidente da República, que insistiu nos liberais para solucionar a crise política, confiando a António Granjo a tarefa de formar novo governo.
Teoricamente, nada mudava: o novo presidente do Ministério mantinha, em linhas gerais, os mesmos propósitos reformistas do governo anterior, pese embora a sua feição mais “evolucionista”.
No debate parlamentar, António Granjo ficou ciente das dificuldades que iria enfrentar, quando o PRP, pela voz de António Maria da Silva, reduziu a declaração ministerial a um simples “artigo” do República (diário de que António Granjo fora director). Daí que, contrariamente ao que acontecera com o anterior chefe do executivo, António Granjo não poderia sequer contar “com o apoio platónico dos dirigentes democráticos”.
A partir de meados de Setembro (altura em que se decidiu adiar as sessões parlamentares até inícios de Novembro), os ataques ao governo e a António Granjo subiram de tom. Quem o conhecia sabia que era um homem de carácter, sério e frontal, incapaz de manigâncias que lhe enchessem os bolsos e lhe enlameassem o nome e a honra. Mas foi isso justamente o que alguns procuraram fazer, acusando-o (na sequência da proposta de lei que previa a existência de três tipos de pão) de se ter vendido à Moagem.
A atmosfera política que se vivia em Portugal no Verão de 1921 era, pois, extremamente densa. Os boatos fervilhavam diariamente. Um deles dava conta de que o governo pretendia desarmar a GNR e, nesse sentido, ordenara ao Exército que cercasse a capital.
Em Lisboa conspirava-se sem grande pudor, dentro e fora dos quartéis. O núcleo central da conspiração, dizia Cunha Leal, estava justamente na GNR, no círculo ligado a Liberato Pinto. A ele se haviam juntado “alguns náufragos do popularismo”, expulsos do Parlamento pela via eleitoral.
António Granjo, naturalmente, sabia das maquinações contra o seu governo. Não acreditava, porém, que se preparasse uma revolução mas apenas uma “desordem”, que seria facilmente reprimida, “com pouco sangue e poucas vítimas”. Contra o chefe do executivo, porém, haviam-se coligado um conjunto de “forças a que lhe não seria possível resistir”. Por instância de Cunha Leal, Magalhães Lima, grão-mestre da Maçonaria (que tinha alguns dos seus membros fortemente envolvidos na conspiração), desenvolveria então uma forte acção dissuasora que impediu a deflagração do movimento militar em 30 de Setembro.
Em declarações ao Diário de Lisboa, António Granjo, com uma ingenuidade que roçava a inconsciência, desvalorizava os acontecimentos: a revolução abortara porque os que a promoveram “não tinham elementos”. Tudo estava, pois, “em sossego”.
Enganava-se completamente. E por saber que assim era, até Cunha Leal (seu adversário político) o aconselhou a provocar a queda do governo. Mas Granjo, transmontano da melhor cepa, era rijo e teimoso. E por isso continuou no seu posto, ignorando (ou fazendo por ignorar) o perigo em que incorria.
O cerco, porém, começava a apertar. E para isso deu inestimável contributo a acção corrosiva da generalidade da imprensa incluindo a republicana.
A 19 de Outubro a revolução saía finalmente para a rua. Era (diria mais tarde Bernardino Machado) “a resposta à ditadura do rotativismo partidário”. Mas os acontecimentos precipitaram-se. Sem apoios que pudessem fazer frente ao movimento revolucionário, cuja Junta integrava elementos da GNR, às 10 horas da manhã António Granjo enviava uma carta ao Presidente da República, colocando nas suas mãos a “sorte do governo”. Na resposta, António José de Almeida dava por finda a sua missão e a dos ministros do seu governo. Ao meio-dia declarava aos revolucionários que terminavam também as suas funções de Presidente da República. Como não podia “resignar de direito perante o Congresso”, desligava-se ele próprio, “de facto” dessas funções.
As horas que se seguiram foram alucinantes. Perante a onda de violência incontrolada, o Presidente da República acabaria por recuar na intenção de se demitir, dando posse a um novo governo presidido pelo coronel Manuel Maria Coelho, revolucionário do 31 de Janeiro de 1891.
O saldo da “Noite Sangrenta” foi trágico: perante as balas assassinas de um grupo de facínoras caíram meia dúzia de republicanos, entre os quais António Granjo e Machado Santos.
Os “monstruosos” crimes de 19 de Outubro (assim os crismou Bernardino Machado) foram, segundo a opinião do historiador Ribeiro Lopes, “a explosão das paixões criadas e acumuladas pelo regime”. Não seriam possíveis, diria Jaime Cortesão no funeral de António Granjo, “sem a dissolução moral” a que chegara a sociedade portuguesa.
Como não podia deixar de ser, foi breve o governo “outubrista” de Manuel Maria Coelho. A este governo (que Bernardino Machado crismaria de “governo de armistício”, por dele fazerem parte vencedores e vencidos) sucederia outro de feição semelhante, sob a presidência do coronel Carlos Maia Pinto. Esteve em funções pouco mais de um mês. O seu acto mais significativo foi a dissolução do Parlamento e a consequente marcação de eleições para 11 de Dezembro. O habitual jogo partidário acabaria por fazer com que elas fossem adiadas 29 de Janeiro de 1922, numa altura em que o executivo era já outro. De facto, desde 16 de Dezembro, Cunha Leal passara a liderar um governo de concentração, que juntava democráticos, liberais e reconstituintes.
O PRP, cuja máquina eleitoral continuava intacta, apresentou-se sozinho, integrando, porém, o grupo dissidente de Domingos Pereira, que entretanto regressara às suas fileiras. Em Lisboa, em listas ditas de conjunção republicana, concorreram os outros partidos, incluindo o socialista. No resto do país foi cada um por si. Contra estas forças se bateram, em listas autónomas, os candidatos governamentais, os monárquicos, os católicos, os outubristas, os regionalistas e os independentes. Globalmente, assistiu-se a uma reprise parlamentar, facto que, como profetizava um diário lisboeta, levaria, mais cedo ou mais tarde “à reprise dos mesmos processos e dos mesmos crimes”.
Bernardino Machado, que não concorrera às eleições de 10 de Julho de 1921 (apesar de convidado a integrar as listas do Núcleo Republicano Regionalista do Norte), também não se apresentou às de 29 de Janeiro de 1922. O seu objectivo estava mais além, isto é, nas presidenciais de 1923. Julgava, sem dúvida, que a sua mais que provável eleição poderia finalmente cicatrizar a ferida que se abrira com o golpe sidonista que o afastara de forma inconstitucional do Palácio de Belém. Até lá, o que urgia era “consolidar o regime, dando toda a força moral à autoridade pública pela participação integral, activa, militante, de todos no poder”.
Não obstante o optimismo e a resiliência de Bernardino Machado, os fados continuariam a ser-lhe adversos. Surpreendentemente, diga-se. Mas isso são já contas doutro rosário. Desse e doutros episódios políticos se falará certamente no próximo volume desta magnífica colecção.
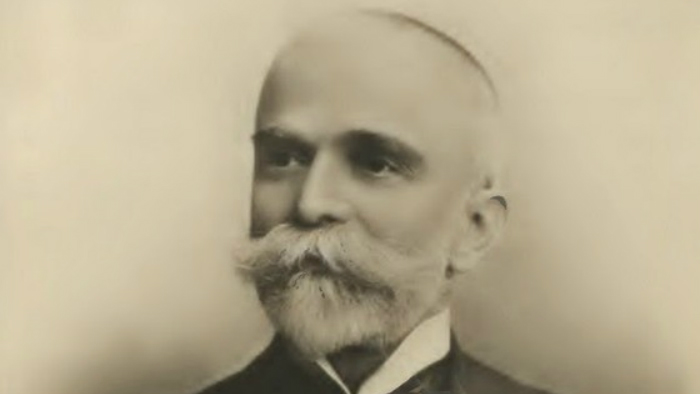
*
Se chegou até aqui é porque provavelmente aprecia o trabalho que estamos a desenvolver.
A Vila Nova é cidadania e serviço público.
Diário digital generalista de âmbito regional, a Vila Nova é gratuita para os leitores e sempre será.
No entanto, a Vila Nova tem custos, entre os quais se podem referir, de forma não exclusiva, a manutenção e renovação de equipamento, despesas de representação, transportes e telecomunicações, alojamento de páginas na rede, taxas específicas da atividade.
Para lá disso, a Vila Nova pretende pretende produzir e distribuir cada vez mais e melhor informação, com independência e com a diversidade de opiniões própria de uma sociedade aberta.
Se considera válido o trabalho realizado, não deixe de efetuar o seu simbólico contributo sob a forma de donativo através de netbanking ou multibanco. Se é uma empresa ou instituição, o seu contributo pode também ter a forma de publicidade.
NiB: 0065 0922 00017890002 91
IBAN: PT 50 0065 0922 00017890002 91
BIC/SWIFT: BESZ PT PL
*