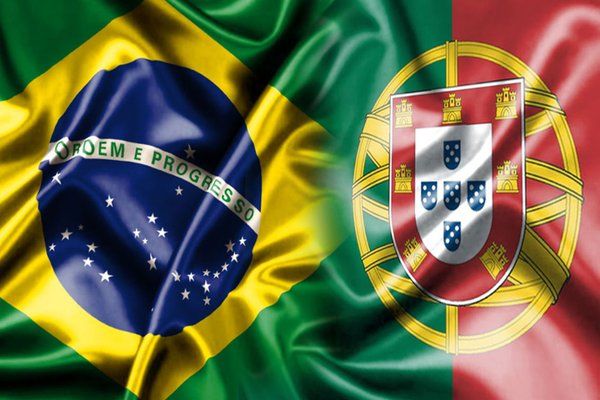No dia 7 de setembro, assinalou-se o bicentenário da independência do Brasil em relação a Portugal, um acontecimento da maior relevância que repercutiu fortemente na trajetória política, social, económica e cultural de ambos os países nos séculos XIX, XX e XXI.
Ao longo dos dois últimos séculos, não faltaram propostas no sentido de promover uma maior aproximação entre ambos os países, tendo sido inclusive proposta a união política.
A revolução portuguesa de 1820 e a independência do Brasil
Na génese da revolução portuguesa de agosto de 1820, esteve uma grave crise económica, social e política relacionada com as graves consequências das invasões francesas (1807-1811), a tutela britânica e a permanência da família real e dos principais centros de decisão política no Brasil.
Em contrapartida, o Brasil registava um franco desenvolvimento económico e foi provido de instituições próprias de um Estado moderno e que eram a réplica das portuguesas, designadamente nos campos judicial, com a criação de tribunais de ultima instância, e administrativo, com a transformação das antigas capitanias em províncias e a criação de instituições como a Junta de Comércio, Agricultura e Navegação, a Junta de Fazenda e o Banco do Brasil.
Aquando da independência, em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de reino, no âmbito do então proclamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves foi uma solução ajustada à necessidade de manutenção de um império luso-brasileiro num contexto bastante desafiante.
Em primeiro lugar, permitiu a Portugal manter um certo posicionamento estratégico na sua relação com as potências europeias, sobretudo no cenário posterior às guerras que dilaceraram a Europa entre o início da Revolução Francesa (1789) e a queda definitiva de Napoleão I (1815). Há que ter em conta que muitos Estados de pequena e média dimensão desapareceram do mapa político europeu neste período.
Em segundo lugar, contribuiu para conter aspirações independentistas mais radicais, inspiradas pela onda de independências nos territórios da América espanhola e sobretudo pelo exemplo dos Estados Unidos da América, cuja independência Portugal foi um dos primeiros a reconhecê-la.
Em terceiro lugar, afirmava a unidade e a identidade política comum de territórios geograficamente dispersos em quatro continentes (Europa, América, África e Ásia), sob a égide de uma monarquia imperial.
Os mentores da revolução portuguesa de 1820, nos quais mereceram destaque especial os nomes de Manuel Fernandes Tomás, José da Silva Carvalho e José Ferreira Borges, estavam influenciados pelos ideais do liberalismo que se difundia rapidamente um pouco por todo o mundo, nomeadamente pela Europa e pela América.
A adesão da sociedade portuguesa à revolução foi generalizada, embora tenha sido motivada mais pela aspiração do regresso do rei D. João VI do que pela instauração de um sistema constitucional.
A Junta Previsional, que assumiu o governo de Portugal na sequência da revolução de 1820, ordenou a realização de Cortes Constituintes, cujos deputados seriam designados por eleição, afastando-se claramente da conceção tradicional das Cortes, baseada na representação corporativa das ordens ou estados (clero, nobreza e povo). Foram as primeiras eleições gerais da história portuguesa.
Mas as eleições para as Cortes Constituintes tiveram outro aspeto inovador, nem sempre devidamente valorizado. Foi determinada a realização de eleições gerais em todos os territórios do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o que faz das Cortes Constituintes de 1821-1822 o primeiro parlamento pluricontinental da História da humanidade.
Para os padrões da época, o direito a voto era relativamente amplo e o sufrágio igual e secreto. Com efeito, tinha direito de voto à população livre adulta masculina, excluindo por isso escravos e servos.
A representação dos diversos territórios era feita de acordo com o tamanho do seu eleitorado e não com o tamanho da sua população total. Estava previsto um deputado por cada trinta mil eleitores. Como resultado, haviam cem deputados do Portugal europeu (incluindo os Açores e a Madeira), sessenta e nove do Brasil e dezasseis dos demais territórios ultramarinos.
Na sequência do triunfo da revolução, o rei D. João VI regressou, mas designou como regente do reino do Brasil o príncipe herdeiro D. Pedro. Refira-se que o Brasil tinha sido elevado em 1815 à condição de reino, tendo sido dotado de instituições próprias nos campos administrativo e judicial.
Após ter desembarcado em Lisboa, o monarca comunicou às Cortes que confiara ao príncipe herdeiro a regência do Brasil. Os deputados portugueses não reconheceram ao monarca autoridade para designar regentes e decretaram o regresso de D. Pedro a Portugal. Além disso, decretaram que o governo do Brasil deveria ser assegurado pelas juntas surgidas nas várias províncias brasileiras, que ficariam diretamente dependentes de Lisboa.
A essa medida, outras se seguiram, entre elas a extinção dos tribunais de última instância que D. João VI criara no Brasil e a organização de uma expedição militar para colocar termo à resistência crescente que a autoridade portuguesa estava a encontrar no Brasil.
A organização política dos territórios do ultramar e do Brasil tornou-se um dos assuntos mais relevantes das Cortes de 1821-1822.
Nos deputados portugueses, existia uma tendência forte que defendia uma conceção centralista da unidade política pluricontinental. Uma conceção que perdurou durante os séculos XIX e XX, contribuindo para a preservação formal de um modelo centralizador de relação com os territórios ultramarinos, com consequências não propriamente positivas.
No Brasil, existiam duas grandes correntes políticas. Uma delas aspirava a uma união entre Portugal e o Brasil, inspirando-se nas uniões entre a Áustria e a Hungria, a Inglaterra e a Escócia ou a Suécia e a Noruega. Outra pretendia a independência total, sem qualquer relação privilegiada com Portugal.
Em julho de 1822, os deputados brasileiros apresentaram a sua proposta sobre o modelo político do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
A proposta era a de plena paridade política entre Portugal e o Brasil. Previa o reconhecimento de dois reinos – o do Brasil e o de Portugal e Algarves. Cada reino deveria ter o seu parlamento e o seu governo próprios, dotados de capacidade para legislar e regular os seus assuntos internos. Seria estabelecido um parlamento comum – as “Cortes Gerais de toda a Nação compostas de cinquenta deputados tirados das Cortes especiais dos dois Reinos” – o qual teria competência legislativa para os assuntos da defesa, política externa, comércio externo, circulação monetária, exame de contas e controlo da constitucionalidade. Os territórios portugueses em África e na Asia poderiam escolher a qual dos reinos deveriam pertencer
A apresentação do projeto motivou a indignação dos deputados portugueses, considerando-o como uma manifestação de rebeldia e uma afronta à unidade nacional.
Os deputados brasileiros argumentaram que desejavam a união autêntica do Brasil e de Portugal, mas que essa união tinha sido de ser baseada na liberdade.
É inegável que os deputados brasileiros efetuaram um empenho inteligente para salvaguardar a união política de Portugal e do Brasil nas únicas condições em que era possível, o que não teve correspondência por parte dos deputados portugueses.
Mas existiam portugueses que concordavam com uma união de índole federal entre Portugal e o Brasil.
Um deles era Pedro de Sousa Holstein, conde e futuro duque de Palmela, um dos principais colaboradores do monarca D. João VI, tendo chegado a ser o ministro dos Negócios Estrangeiros.
Nos contactos diplomáticos entre Portugal e a Rússia, na altura já uma das principais potências a nível europeu e mundial, Pedro de Sousa Holstein apresentou o seguinte memorando:
“O Reino Unido, na sua integridade, possuindo posições muito vantajosas nas quartas partes do mundo, quer se considerem politicamente como pontos marítimos e militares, quer se encarem pelo lado comercial, pode algum dia prejudicar o sistema de domínio nos mares e do comércio exclusivo que a Inglaterra prossegue sem descanso e que determina o caráter essencial da sua política. Na mesma hipótese perderá a Inglaterra um aliado forçadamente dócil e submisso a todas as suas vontades; arriscar-se-ia a ter um rival temível no comércio das Índias Orientais. A divisão do Reino Unido, e especialmente a separação absoluta do Brasil, evitará a Inglaterra os perigos remotos que acabamos e adquirir-lhe-á as vantagens próximas e imediatas: 1.º de conservar Portugal sob a sua tutela; 2.º de se assenhorar de todo o comércio do Brasil com a mãe-pátria; 3.º finalmente, dominar o Brasil por uma longa sucessão de anos e retalhar este reino para não ter de recear do seu poder nascente.”
Pedro de Sousa Holstein defendia também uma comunidade cidadã efetiva, com igualdade de direitos de portugueses e de brasileiros em Portugal e do Brasil.
Tudo indica que o documento atrás mencionado teve a concordância do rei D. João VI. Este documento assume a maior relevância porque contém o projeto de uma unidade política pluricontinental que seria uma âncora fundamental da política da Monarquia Constitucional e da Primeira e Segunda Repúblicas.
Infelizmente, os deputados portugueses na Cortes Constituintes não aproveitaram a oportunidade histórica.
Poderiam ter negociado com os seus congéneres brasileiros uma solução constitucional simultaneamente aceitável para Portugal e o Brasil. Por exemplo, poderiam ter valorizado a conceção do Reino Unido como uma união política bi-hemisférica. Neste sentido, o Brasil deveria englobar todos os territórios do hemisfério ocidental, enquanto o reino de Portugal deveria abranger todos os territórios do hemisfério oriental. Por conseguinte, os territórios portugueses em África e na Ásia deveriam estar unidos a Portugal.
A intransigência e a falta de visão estratégica da generalidade dos deputados portugueses conduziram à declaração da independência do Brasil liderada pelo príncipe D. Pedro, que se tornou imperador do Brasil, com o título de D. Pedro I.
As aspirações à unidade política entre Portugal e Brasil: do pós-independência à atualidade
A aspiração a uma união politica entre Portugal e o Brasil perdurou após a independência do Brasil.
O próprio tratado de 1825, no qual Portugal reconheceu a independência brasileira, referia-se a uma aliança perpétua entre ambos os países.
Em 1826, D. João VI morreu, tendo sido constituída um conselho de regência presidido pela sua filha, a infanta D. Isabel Maria
O primeiro ato da regência foi enviar para ao Brasil uma deputação para esclarecer o assunto da sucessão junto de D. Pedro, que era imperador do Brasil desde a sua independência, em 1822. D. Pedro considerou-se o legítimo herdeiro do trono português e tomou um conjunto de medidas conciliatórias. D. Pedro considerou-se o legítimo herdeiro do trono português e tomou um conjunto de medidas conciliatórias. Confirmou a regência provisória da infanta D. Isabel Maria. Outorgou uma nova constituição, a Carta Constitucional, que vigorou até à implantação da República, em 1910. Abdicou dos seus direitos à Coroa portuguesa na filha mais velha, D. Maria da Glória, a futura D. Maria II, de apenas 7 anos. Foi a primeira monarca da Europa a nascer fora do continente europeu.
Pode-se afirmar que entre 1826 e 1828 houve uma união pessoal entre Portugal e o Brasil, correspondendo a uma situação em que o chefe de Estado é comum a dois Estados independentes.
É interessante verificar que, durante quase todo o século XIX, Brasil e Portugal foram governados por uma dinastia comum: os Bragança, com instituições semelhantes. D. Maria II, rainha de Portugal entre 1834 e 1853, e D. Pedro II, imperador do Brasil entre 1831 e 1889, eram irmãos. Os sucessores de D. Maria II, os seus filhos D. Pedro V (1853-1861) e D. Luís (1861-1889) eram sobrinhos de D. Pedro II do Brasil. A principal fonte de inspiração da Carta Constitucional de 1826 foi a Constituição brasileira de 1824, permitindo falar-se de um constitucionalismo luso-brasileiro.
A partir dos finais do século XIX a ideia de uma união política de cariz federal ou confederal entre Portugal e o Brasil ganhou uma força renovada, atravessando os diversos setores políticos e intelectuais.
Em primeiro lugar, ao longo do século XIX, houve uma circulação intensa de pessoas, bens e capitais entre ambos os países, em grande parte fomentada pela emigração portuguesa para o Brasil.
Em segundo lugar, surgiu um debate nos círculos políticos e intelectuais em ambos os lados do oceano Atlântico sobre a relevância de uniões transoceânicas de cariz federal ou confederal que agregassem os países das Américas às antigas metrópoles europeias.
Neste contexto, surgiu um movimento amplo, primeiro no Brasil e posteriormente no Brasil, que preconizava uma união política luso-brasileira. Na verdade, dado que os territórios africanos e asiáticos de Portugal estavam incluídas neste ideal, a união política proposta adquiria uma dimensão pluricontinental.
Para além da ênfase nos aspetos históricos, culturais e linguísticos, foram apresentados argumentos de cariz geopolítico e económico, designadamente a relevância geopolítica do Atlântico Sul as vantagens do Brasil no acesso preferencial aos portos portugueses de três continentes (Europa, África e Asia) e as vantagens de Portugal no acesso facilitado ao grande mercado brasileiro.
As diversas propostas apresentadas tinham como finalidade renovar as identidades nacionais, designadamente de Portugal e do Brasil.
A sua forte dimensão utópica expressou-se em diversos e relevantes portugueses e brasileiros gerando uma vontade comum que permitisse a maior aproximação cultural, econômica e política entre os ambos os países.
Este ideal utópico refletiu-se em portugueses e brasileiros de diversas correntes políticas, monárquicos e republicanos, de esquerda e de direita.
Do lado português, mereceram realce, entre outros, António de Bettencourt Rodrigues, João de Barros, Henrique Lopes de Mendonça, Sebastião de Magalhães Lima, Jaime de Magalhães Lima, Ricardo Severo, Alberto de Oliveira, Anselmo Braamcamp Freire, Bernardino Machado e Nuno Simões.
Do lado brasileiro, destacaram-se José Joaquim Medeiros e Albuquerque, José Pereira da Graça Aranha, Artur Pinto da Rocha, Spencer Vampré, Domício da Gama, pseudônimo de Domício Afonso Forneiro, Aldo de Cavalcanti Melo, Alberto Seabra e Noé de Azevedo, entre outros.
A evolução do contexto geopolítico mundial da primeira metade do século XX não providenciou as condições para a concretização de sonhos de união política ao serviço da paz perpétua e do bem comum.
As trajetórias de ambos os países também não ajudou, apesar de algumas iniciativas relevantes como o Tratado de Amizade e Consulta de 1953 e a Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses de 1971.
No terceiro quartel do século XX, a formação de uma comunidade lusíada ou luso-afro-brasileira foi preconizada por determinados setores como a solução institucional para promover uma descolonização ordenada e progressiva dos territórios ultramarinos portugueses, que salvaguardasse a valorização do legado histórico da presença lusófona e o desenvolvimento de sociedades multirraciais baseadas no respeito pelos direitos humanos e na convivência pacífica entre os vários grupos étnicos, religiosos e culturais.
Foi preciso esperar pela década de 1990 para que a comunidade dos povos de língua portuguesa ganhasse consagração institucional.
Em 17 de julho de 1995, foi constituída a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, um passo da maior relevância na promoção da fraternidade lusófona, uma comunidade de povos livres que buscam na língua portuguesa o vínculo identitário comuns para promover a paz e o progresso, contribuindo deste modo para o bem comum da humanidade.